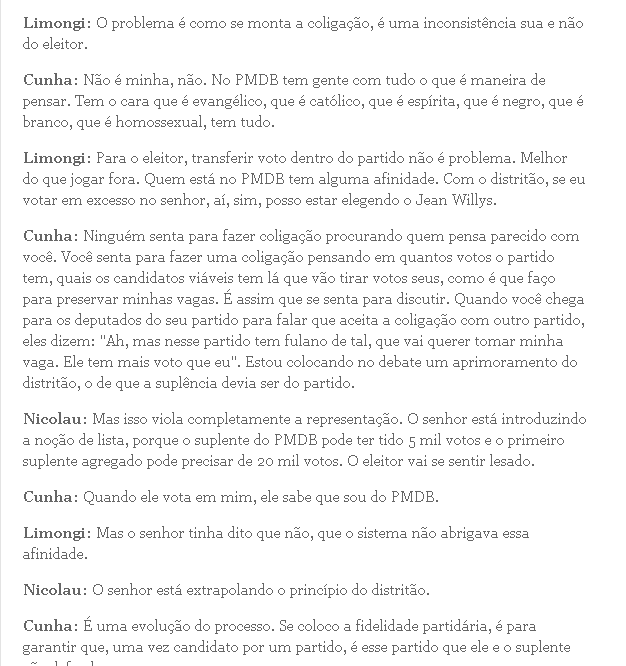Patrick Mettes, 54 anos, diretor de jornalismo de um canal de televisão, estava se tratando de um câncer nas vias biliares quando, numa segunda-feira de abril de 2010, leu na primeira página doTimes um artigo que mudaria sua morte. Ele recebera o diagnóstico três anos antes, pouco depois de Lisa, sua mulher, comentar que ele estava com os olhos amarelos. O câncer já havia se espalhado para os pulmões, e Mettes vinha sofrendo com uma quimioterapia debilitante e o medo cada vez maior de não sobreviver.
O artigo, intitulado “Alucinógenos voltam a despertar interesse médico”, mencionava ensaios clínicos realizados em várias universidades, inclusive a de Nova York (NYU), que prescreviam psilocibina – o ingrediente ativo dos chamados cogumelos mágicos – a pacientes com câncer, para aliviar a ansiedade e a “angústia existencial”. Um dos pesquisadores afirmou que, sob a influência do alucinógeno, “o indivíduo transcende sua identificação primária com o próprio corpo, liberando-se de seu ego e voltando [da viagem] com uma nova perspectiva e uma profunda aceitação”. Ainda que nunca tivesse experimentado uma droga psicodélica, Mettes resolveu se apresentar como voluntário. Lisa foi contra. “Eu não queria uma saída fácil”, ela me explicou. “Queria que ele lutasse.”
O jornalista se candidatou ao programa e foi aceito, depois de preencher uma série de formulários e responder a um questionário minucioso. Como os alucinógenos podem desencadear problemas psicológicos latentes, os pesquisadores procuram excluir voluntários de risco, daí a necessidade de interrogar sobre antecedentes de droga e casos de esquizofrenia ou transtorno bipolar na família. Após a triagem, Mettes foi encaminhado ao terapeuta Anthony Bossis, um psicólogo cinquentão, barbudo e corpulento, especializado em cuidados paliativos, e um dos dois pesquisadores-chave do experimento da NYU.
Depois de quatro encontros, Bossis prescreveu a Mettes um placebo “ativo” (uma dose alta de niacina, que pode produzir uma sensação de formigamento) e uma pílula contendo psilocibina. A administração de cada uma das drogas ocorreria em duas sessões, num local que, longe de parecer um consultório médico, lembrava uma sala de estar – com um sofá confortável, quadros de paisagens, livros de arte e mitologia, bem como uma tralha de objetos de caráter esotérico, entre os quais uma imagem de Buda e um cogumelo de cerâmica.
Ao longo de cada sessão, que ocuparia praticamente o dia todo, Mettes ficaria deitado no sofá, com máscara nos olhos e fones nos ouvidos, escutando uma série de músicas escolhidas a dedo – Brian Eno, Philip Glass, Pat Metheny, Ravi Shankar. Bossis e outro terapeuta, presentes o tempo todo, pouco falariam, mas estariam a postos caso ocorresse qualquer problema.
Conheci Bossis no ano passado, na sala de tratamento da NYU, onde ele estava com seu colega Stephen Ross, professor adjunto de psiquiatria na Escola de Medicina da NYU e responsável pelos experimentos com psilocibina. De terno e gravata, o quarentão Ross passaria por banqueiro. Ele também dirige a divisão de uso abusivo de drogas do hospital Bellevue e contou que não sabia muito a respeito das substâncias psicodélicas – que produzem mudanças radicais no estado mental, inclusive alucinações – até um colega lhe contar que, nos anos 60, o LSD havia sido ministrado com sucesso no tratamento de alcoólatras. Ross resolveu estudar o assunto e ficou perplexo com o que descobriu.
“Eu me senti mais ou menos como o arqueólogo que desenterra todo um corpo de conhecimentos”, disse Ross. A partir dos anos 50, as drogas psicodélicas passaram a ser empregadas para tratar uma vasta gama de problemas, inclusive alcoolismo e medo da morte. A Associação Americana de Psiquiatria realizou várias reuniões para discutir o LSD. “Com financiamento do governo, alguns dos melhores psiquiatras investigaram a fundo esses compostos em modelos terapêuticos”, disse Ross.
Entre 1953 e 1973, o governo federal gastou 4 milhões de dólares para financiar 116 estudos sobre o LSD que envolveram mais de 1 700 cobaias humanas declaradas. Em meados da década de 60, a psilocibina e o LSD eram legais e fáceis de obter. Sandoz, o laboratório suíço no qual, em 1938, Albert Hofmann sintetizou pela primeira vez o LSD – sigla deLysergsäurediethylamid, termo alemão para a dietilamida do ácido lisérgico –, fornecia quantidades maciças de Delysid (nome comercial da substância) a qualquer pesquisador que o solicitasse, na esperança de que se descobrisse um uso para o produto.
As drogas psicodélicas eram testadas em alcoólatras, portadores de transtorno obsessivo-compulsivo, indivíduos depressivos, crianças autistas, esquizofrênicos, pacientes terminais de câncer e presidiários, assim como em artistas e cientistas (para estudar a criatividade) e em estudantes de teologia (para investigar a espiritualidade) saudáveis. Os resultados com frequência eram positivos. Para os padrões modernos, porém, muitos estudos eram mal planejados e raramente bem controlados, se é que de algum modo o eram. Mesmo quando havia algum controle, os pesquisadores quase sempre sabiam quais voluntários haviam tomado a droga, problema recorrente até hoje.
Em meados dos anos 60, o LSD escapou do laboratório e ganhou a contracultura. Em 1970, Richard Nixon assinou a Lei de Substâncias Controladas, que classificou grande parte das drogas psicodélicas na categoria 1, proibindo sua prescrição para qualquer finalidade. A pesquisa foi suspensa, e tudo que se aprendera até então foi como que varrido do campo da psiquiatria. “Quando entrei na faculdade de medicina, nem se falava mais nisso”, Ross disse.
Os experimentos clínicos na NYU – está em curso um segundo, que utiliza psilocibina para tratar o alcoolismo – fazem parte da retomada da investigação sobre drogas psicodélicas, vigente em várias universidades americanas, inclusive na Johns Hopkins, no Centro Médico Harbor-Ucla (da Universidade da Califórnia) e na Universidade do Novo México, bem como no Imperial College, de Londres, e na Universidade de Zurique. Com o arrefecimento do combate à droga, os cientistas se animaram a reavaliar o potencial terapêutico das substâncias psicodélicas, a começar pela psilocibina. Em janeiro passado, The Lancet, o periódico médico mais famoso do Reino Unido, publicou um editorial apoiando essa pesquisa.
A psilocibina produz efeitos semelhantes aos do LSD, mas, como um pesquisador explicou, “não carrega a bagagem política e cultural dessas três letras”. Além de provocar efeitos mais fortes e duradouros, o LSD pode causar mais reações adversas. Os pesquisadores estão usando ou pretendendo usar a psilocibina não só para tratar ansiedade, tabagismo, alcoolismo e depressão, mas também para estudar a neurobiologia da experiência mística, que pode ocorrer mediante doses altas da droga. Quarenta anos depois que a administração Nixon vetou as substâncias psicodélicas, o governo está permitindo que um pequeno número de cientistas retome o trabalho com essas moléculas poderosas e, de algum modo, ainda misteriosas.
Na sala de tratamento da NYU, Tony Bossis e Stephen Ross se mostravam empolgados com os resultados. De acordo com Ross, pacientes com câncer que receberam uma única dose de psilocibina sentiram uma redução imediata e considerável no nível de ansiedade e depressão, e essas melhorias se mantiveram por no mínimo seis meses. Os dados estão sendo analisados e devem ser divulgados para a avaliação de outros profissionais ainda este ano.
“Achei que as primeiras dez ou vinte pessoas haviam sido plantadas, elas só poderiam estar fingindo”, Ross me falou. “Diziam coisas como ‘Para mim o amor é a força maior do planeta’, ou ‘Tive um encontro com meu câncer, essa nuvem negra de fumaça’. Gente que claramente estava apavorada com a morte perdeu o medo. Descobrir que uma droga ministrada uma única vez pode ter esse efeito tão duradouro é algo inédito. Nunca presenciamos nada parecido no campo da psiquiatria.”
Fiquei surpreso ao ver um cientista, justo um especialista no uso abusivo de drogas, demonstrar abertamente seu entusiasmo por uma substância que, em 1970, o governo classificou de inaceitável para uso médico e capaz de criar dependência. Mas a classe médica em geral apoia a retomada da pesquisa. “Sou pessoalmente a favor desse tipo de estudo”, disse o neurocientista Thomas R. Insel, diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental (NIMH). “Se essa droga de fato ajuda quem está sofrendo, merece nossa atenção. O fato de ser psicodélica não a desqualifica.” Já Nora Volkow, diretora do Instituto Nacional de Abuso de Drogas (Nida), enfatizou: “É importante lembrar que, fora do contexto de pesquisa, o uso de drogas que viciam pode produzir sérios danos.”
Muitos pesquisadores foram entusiásticos ao descrever suas descobertas e alguns até empregaram termos como excepcionais. Bossis falou: “As pessoas não imaginam como são poucas as ferramentas de que dispomos para tratar a angústia existencial. Xanax (o alprazolam) não dá conta. Por que não explorar essa via, se ela pode recalibrar o modo como morremos?”
O psiquiatra Herbert D. Kleber, diretor da divisão de uso abusivo de drogas do Instituto Psiquiátrico do Estado de Nova York, da Universidade Columbia, e um dos maiores especialistas do país, recomendou cautela: “A pesquisa é fascinante, mas não podemos esquecer que as amostras são pequenas.” Ele também ressaltou o risco de efeitos adversos e a necessidade do acompanhamento de “tutores, já que se pode ter uma experiência boa ou assustadora”. E acrescentou, referindo-se à investigação da nyu e da Johns Hopkins: “Esses estudos estão nas mãos de terapeutas competentes, dedicados, que sabem o que estão fazendo. Mas será que dá para falar disso no horário nobre?”
Aideia de ministrar uma droga psicodélica a moribundos foi concebida pelo romancista Aldous Huxley. Ele conheceu a mescalina em 1953, por meio do psiquiatra inglês Humphry Osmond; no ano seguinte, relatou sua experiência em As Portas da Percepção. (Foi Osmond quem cunhou a palavra “psicodélico” – “que torna visível a mente” – numa carta que escreveu a Huxley em 1956.) O escritor propôs uma pesquisa sobre a “administração do LSD a pacientes terminais de câncer, na esperança de tornar a morte um processo mais espiritual e menos estritamente fisiológico”. Em seu leito de morte, Huxley pediu à mulher que lhe injetasse a droga – ele morreu de câncer na laringe, aos 69 anos, em 22 de novembro de 1963.
Em 1957, R. Gordon Wasson – então vice-presidente do banco J. P. Morgan, em Nova York –, que estudava fungos por diletantismo, escreveu para a revista Life um artigo de quinze páginas sobre os cogumelos que contêm psilocibina, despertando assim o interesse da medicina ocidental (e da cultura popular). Dois anos antes, depois de passar anos recolhendo relatos sobre o uso clandestino de cogumelos entre indígenas mexicanos, Wasson acabou por experimentá-los por meio de uma curandera do sul do México. Sua descrição maravilhada, na primeira pessoa, da viagem psicodélica que fez durante uma cerimônia noturna inspirou vários cientistas a estudar a psilocibina – dentre os quais Timothy Leary, conceituado psicólogo que realizava pesquisas sobre personalidade em Harvard. Após experimentar os cogumelos em Cuernavaca, em 1960, Leary criou o Harvard Psilocybin Project para investigar o potencial terapêutico dos alucinógenos. Envolveu-se com o LSD alguns anos mais tarde.
Albert Hofmann experimentou os cogumelos em 1957, na esteira do trabalho de Wasson. “Trinta minutos depois, o mundo exterior começou a sofrer uma estranha transformação”, escreveu. “Tudo adquiriu um aspecto mexicano.” Hofmann então tratou de identificar, isolar e, por fim, sintetizar o ingrediente ativo, a psilocibina, o composto utilizado na pesquisa atual.
Talvez o mais influente e rigoroso desses estudos pioneiros tenha sido o experimento da Sexta-Feira Santa, conduzido em 1962 por Walter Pahnke, psiquiatra e pastor que fazia sua tese de doutorado em Harvard, sob a orientação de Leary. Pouco antes da cerimônia da Sexta-Feira Santa na Capela Marsh, no campus da Universidade de Boston, vinte estudantes de teologia receberam uma cápsula de pó branco – em dez havia psilocibina; nas outras dez, um placebo ativo (ácido nicotínico). Como se tratava de um experimento duplo-cego, nem pesquisadores nem pesquisados sabiam quem tomava o quê.
Oito dos dez estudantes que ingeriram psilocibina relataram uma experiência mística e apenas um do grupo de controle teve um sentimento do “sagrado” e uma “sensação de paz”. (Não era difícil distingui-los, o que transformava o duplo-cego num conceito meio vazio: a turma do placebo sentou tranquila nos bancos, enquanto os outros se deitaram ou ficaram andando pela capela, resmungando frases como “Deus está em toda parte” e “Oh, a glória!”.) Pahnke concluiu que as experiências dos oito que tomaram psilocibina eram “indistinguíveis” das experiências místicas clássicas relatadas por William James, Walter Stace e outros.
Em 1991, Rick Doblin, diretor da Associação Multidisciplinar para Estudos Psicodélicos (Maps), publicou um estudo de acompanhamento da experiência na Capela Marsh. Para tanto, localizou todos os estudantes de teologia, à exceção de um, que experimentaram a psilocibina e entrevistou sete deles. Todos afirmaram que a experiência foi determinante para suas vidas, tendo deixado marcas profundas e duradouras nos planos pessoal e profissional. Mas Doblin encontrou falhas no texto de Pahnke: ele não mencionou a ansiedade aguda que alguns dos estudantes sofreram durante a experiência. Um deles precisou ser contido e receber uma dose de Torazina (a clorpromazina), um antipsicótico poderoso, depois que saiu correndo pela avenida Commonwealth, convencido de que fora escolhido para anunciar a vinda do Messias.
A primeira leva de pesquisas envolvendo drogas psicodélicas pecava pelo entusiasmo excessivo em relação a seu potencial. Os cientistas que trabalhavam com essas moléculas extraordinárias tendiam a acreditar que tinham em mãos uma novidade capaz de mudar o mundo – um evangelho psicodélico. Não era fácil admitir que essa maravilha ficasse confinada em laboratórios, com seu uso restrito a enfermos. Não demorou muito e cientistas respeitáveis se irritaram com a ciência objetiva – para Leary, por exemplo, a ciência agora não passava de mais um jogo social, uma caixa de convenções a ser destruída – junto com todas as outras.
A interrupção da pesquisa envolvendo drogas psicodélicas teria sido inevitável? Stanislav Grof, psiquiatra de origem tcheca que nos anos 60 ministrou muito LSD em seu consultório, acredita que a substância “perdeu o elemento dionisíaco” nos Estados Unidos e, como representava uma ameaça aos valores puritanos do país, acabou sendo rechaçada. (Ele acha que a história pode se repetir.) Roland Griffiths, psicofarmacologista da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, ressalta que a cultura americana não é a primeira a se sentir ameaçada pelas drogas psicodélicas: Gordon Wasson precisou redescobrir os cogumelos no México porque os espanhóis os viam como perigosos instrumentos do paganismo e por isso trataram de eliminá-los.
“A experiência mística primária provoca uma sensação de autoridade tão intensa que pode ser ameaçadora para as estruturas hierárquicas existentes”, Griffiths me explicou, quando fui encontrá-lo na primavera passada. “Acabamos demonizando esses compostos. Você conhece alguma outra área da ciência considerada tão perigosa, tão tabu a ponto de estagnar toda a pesquisa durante décadas? Isso não tem precedente na ciência moderna.”
No início de 2006, Tony Bossis, Stephen Ross e Jeffrey Guss, psiquiatra e colega na NYU, passaram a se encontrar toda sexta-feira à tarde, depois do expediente, para ler e discutir sobre drogas psicodélicas. Autodenominaram-se Psychedelic Reading Group (PRG) [Grupo de Estudos Psicodélicos] – ao cabo de alguns meses, porém, o R de PRG já significava Research [Pesquisa]. Decidiram tentar iniciar um ensaio clínico usando psilocibina como uma terapia adjuvante para tratar a ansiedade de pacientes com câncer.
Os obstáculos eram imensos: a Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos (FDA) e o Departamento de Repressão às Drogas (DEA) autorizariam o uso da substância? O Conselho de Estudo Institucional (IRB) da NYU, encarregado de proteger indivíduos submetidos a experimentos, permitiria que prescrevessem uma droga psicodélica a pacientes com câncer? Em julho de 2006, a Psychopharmacology publicou um artigo de autoria de Roland Griffiths e colaboradores que foi um verdadeiro divisor de águas: “A psilocibina pode provocar experiências do tipo místico com significado pessoal e espiritual substancial e duradouro.”
“Todos nós adoramos o artigo de Roland”, lembra Bossis. “Ele reforçou a certeza de que podíamos seguir adiante. A Johns Hopkins havia demonstrado que era possível fazer isso sem problema.” O texto também forneceu a Ross munição para persuadir um irb cético. “A aprovação foi facilitada pelo fato de a pesquisa sobre drogas psicodélicas ser feita na Hopkins – considerada a principal escola de medicina do país. Foi um estudo surpreendente, com uma concepção muito elegante.”
Mesmo assim, a pesquisa ainda é rigidamente regulamentada e vigiada. A experiência da NYU só teve início depois que Ross obteve a aprovação da FDA; do Conselho de Estudo de Oncologia da NYU; do IRB; do Comitê Bellevue de Estudo e Pesquisa; do Centro Bluestone para Pesquisa Clínica; do Instituto de Ciência Clínica e Translacional, e, por fim, da DEA, que precisava autorizar o uso de uma substância incluída na categoria 1.
O experimento duplo-cego de Griffiths repetia o que Pahnke fizera nos anos 60, porém com muito mais rigor científico. Trinta e seis voluntários que nunca haviam tomado alucinógeno receberam uma pílula contendo ou psilocibina ou um- placebo ativo (Ritalina, o metilfeni-dato); na sessão seguinte, os pesquisadores alternaram as pílulas. “Ministrada com o devido apoio”, o estudo concluiu, “a psilocibina suscitou experiências semelhantes às vivências místicas que ocorrem espontaneamente.” Os participantes consideraram tais experiências tão marcantes quanto o nascimento de um filho ou a morte de um genitor. Para dois terços deles, a sessão de psilocibina foi uma das cinco experiências espiritualmente mais importantes da vida; para um terço, foi a mais importante. Catorze meses depois, essas classificações baixaram apenas ligeiramente.
Além disso, a “plenitude” da experiência mística seguiu de perto as melhorias relatadas quanto ao bem-estar pessoal, a satisfação com a vida e a “mudança positiva de comportamento” – aferidas dois meses e, novamente, catorze meses após a sessão. (Os pesquisadores se utilizaram das autoavaliações dos participantes do estudo e das de seus colegas de trabalho, amigos e parentes.) Os autores do estudo determinaram a plenitude da experiência mística por meio de dois questionários, um dos quais era o Questionário da Experiência Mística Pahnke–Richards, parcialmente baseado em As Variedades da Experiência Religiosa, de William James.
Tal questionário avalia sentimentos de comunhão, religiosidade, inefabilidade, paz e alegria, bem como a impressão de ter transcendido o espaço e o tempo e a “sensação noética” de que a experiência revelou uma verdade objetiva a respeito da realidade, uma nova percepção dessa mesma realidade. Uma experiência mística “plena” é aquela que apresenta essas seis características. Griffiths acredita que a eficácia duradoura da droga se deva a sua capacidade de provocar essa expe-riência transformadora sem mudar a química do cérebro no longo prazo, como faz uma droga psiquiátrica convencional como o Prozac (a fluoxetina).
Um estudo de acompanhamento realizado por Katherine MacLean, psicóloga do laboratório de Griffiths, constatou que a experiência com psilocibina também teve um efeito positivo e duradouro na personalidade da maioria dos participantes. (A psicologia convencional sustenta que em geral a personalidade está definida aos 30 anos, e depois dessa idade dificilmente passa por alguma alteração substancial.) Mais de um ano depois das sessões de psilocibina, os voluntários que haviam tido as experiências místicas mais plenas apresentaram um aumento significativo em sua “abertura”, um dos cinco aspectos que os psicólogos analisam ao avaliar traços de personalidade – os outros são: consciência, extroversão, afabilidade e neuroticismo, isto é, a tendência a um estado emocional negativo. A abertura, que inclui apreciação estética, imaginação e tolerância em relação a opiniões alheias, é um bom indício de criatividade.
“Não quero usar o termo excepcional”, disse Griffiths, “mas, como fenômeno científico, que tal conseguir criar condições nas quais 70% das pessoas vão dizer que essa foi uma das cinco experiências mais marcantes que tiveram na vida? Para um cientista é uma coisa incrível.”
Aatual retomada da pesquisa se beneficiou em grande parte da respeitabilidade de seus defensores. Aos 68 anos, Roland Griffiths, que se especializou em behaviorismo e ocupa posição destacada nos departamentos de psiquiatria e neurociência da Hopkins, é um dos maiores pesquisadores americanos no campo do vício em drogas. Com mais de 1,80 metro de altura, magro como um palito e reto como um poste, tudo o que tem de indisciplinado é o cabelo branco, tão abundante que parece desafiar o pente. Tom Insel, diretor do NIMH, definiu-o como “um cientista famoso pela análise meticulosa de dados”, e aprovou seu envolvimento “numa área que outras pessoas poderiam ver como um incentivo ao uso de drogas”.
A carreira de Griffiths sofreu uma reviravolta inesperada nos anos 90, depois de duas grandes descobertas. A primeira foi em 1994, quando um amigo lhe apresentou o Siddha Yoga. A meditação o fez conhecer “algo que estava além, muito além de uma visão material do mundo, e não posso falar com meus colegas sobre isso, porque envolve metáforas ou conjecturas que são pouco confortáveis para um cientista como eu”. Ele passou a acalentar “pensamentos fantasiosos” de abandonar a ciência e ir para a Índia.
Em 1996, Charles R. (Bob) Schuster, um velho amigo e colega que acabava de se aposentar como diretor do Nida, sugeriu que ele conversasse com Robert Jesse, um jovem que acabara de conhecer no centro de estudos alternativos Instituto Esalen, em Big Sur, na Califórnia. Interessado em questões espirituais, Jesse não era médico nem cientista – vice-presidente da Oracle, trabalhava com computadores. Imbuído da missão de ressuscitar a pesquisa com drogas psicodélicas, Jesse organizara uma reunião de cientistas e religiosos para discutir o potencial espiritual e terapêutico dessas substâncias e como reabilitá-las.
Quando se escrever a história da segunda leva de pesquisas sobre drogas psicodélicas, Bob Jesse será lembrado como um dos dois leigos em ciências que trabalharam nos bastidores para fazê-la decolar. (O outro é Rick Doblin, o fundador da Maps.) Enquanto esteve de licença da Oracle, Jesse criou uma entidade não lucrativa, o Conselho em Práticas Espirituais (CSP), com o objetivo de “tornar a experiência direta do sagrado mais acessível a mais pessoas”. (Em vez de “psicodélico”, ele prefere o termo “enteógeno”, ou “que facilita o acesso a Deus”.)
Em 1996, o CSP organizou uma histórica reunião no Esalen. Dos quinze presentes, muitos eram pesquisadores veteranos, como James Fadiman e Willis Harman, que anos antes haviam estudado as drogas psicodélicas em Stanford, e teólogos como Huston Smith, renomado estudioso de religião comparada. Mas Jesse sabiamente resolveu convidar Bob Schuster, especialista em uso abusivo de drogas que trabalhara em dois governos republicanos. No final do encontro, o grupo decidiu promover “uma pesquisa honesta, inatacável, a ser realizada numa instituição com pesquisadores acima do bem e do mal” e, de preferência, “sem qualquer promessa de tratamento clínico”. Jesse estava menos interessado nos distúrbios mentais do que no bem-estar espiritual das pessoas – queria usar os enteógenos para o que chama de “aperfeiçoamento de gente saudável”.
Pouco depois da reunião no Esalen, Bob Schuster (que morreu em 2011) ligou para Jesse e lhe comunicou que seu velho amigo Roland Griffiths era “o pesquisador acima do bem e do mal” que ele buscava. Jesse foi a Baltimore para conhecê-lo, e desse encontro se originou uma série de conversas e reuniões sobre meditação e espiritualidade. Griffiths se dedicou à pesquisa sobre drogas psicodélicas, coroada pelo artigo de 2006, publicado na Psychopharmacology.
Omérito do artigo transcendeu as descobertas nele relatadas. Por iniciativa da revista, vários pesquisadores e neurocientistas foram convidados a comentá-lo e se convenceram da importância de retomar as investigações. Herbert Kleber, da Universidade Columbia, aplaudiu o texto e reconheceu que “grandes possibilidades terapêuticas” poderiam resultar de novos estudos sobre essas drogas, alguns dos quais mereceriam “o apoio do Instituto Nacional de Saúde (NIH)”. Solomon Snyder, o neurocientista da Hopkins que nos anos 70 descobriu os receptores opioides do cérebro, resumiu o que Griffiths havia conquistado para a área: “A capacidade desses pesquisadores para conduzir um estudo duplo-cego bem controlado mostra que a investigação clínica sobre drogas psicodélicas pode ser segura, não carecendo vedá-la à maioria dos pesquisadores.”
Roland Griffiths e Bob Jesse abriram uma porta que por mais de três décadas permanecera cerrada. Charles Grob, da Ucla, foi o primeiro a transpô-la, obtendo a aprovação da FDA para a Fase I de um estudo piloto que avaliaria a segurança, a dosagem e a eficácia da psilocibina no tratamento da ansiedade em pacientes com câncer. Seguiram-se os experimentos da Fase II, recém-concluídos na Hopkins e na NYU, que envolveram doses mais altas e grupos maiores (29 na NYU; 56 na Hopkins) e incluíram Patrick Mettes e mais uma dúzia de pacientes com câncer em Nova York e Baltimore.
Desde 2006, o laboratório de Griffiths vem conduzindo um estudo piloto sobre o potencial da psilocibina para tratar o tabagismo (os resultados foram publicados na Psychopharmacology de novembro passado). A amostra é pequena – quinze fumantes –, mas a taxa de sucesso é impressionante. Doze participantes que já haviam tentado largar o cigarro por meio de outros métodos continuavam sem fumar seis meses após o tratamento, o que representa 80% de êxito. Para se ter uma ideia do sucesso, hoje em dia o principal tratamento para o tabagismo é a terapia de substituição da nicotina. Um artigo publicado numa edição recente do BMJ – chamado até 1988 deBritish Medical Journal – informa que depois do tratamento apenas 7% dos fumantes permaneceram longe do cigarro durante seis meses.
No estudo da Hopkins, os participantes passaram por duas ou três sessões de psilocibina e um curso de terapia cognitivo-comportamental para ajudar a controlar
a vontade de fumar. A experiência com a substância psicodélica parece permitir que se reveja e se interrompa um hábito arraigado. “Fumar parecia irrelevante, e por isso parei”, disse um deles. Os voluntários que relataram uma experiência mística plena tiveram mais sucesso em largar o hábito. Um experimento mais longo da Fase II, comparando a psilocibina à substituição da nicotina (ambas em associação com a terapia cognitivo-comportamental), está em curso na Hopkins.
a vontade de fumar. A experiência com a substância psicodélica parece permitir que se reveja e se interrompa um hábito arraigado. “Fumar parecia irrelevante, e por isso parei”, disse um deles. Os voluntários que relataram uma experiência mística plena tiveram mais sucesso em largar o hábito. Um experimento mais longo da Fase II, comparando a psilocibina à substituição da nicotina (ambas em associação com a terapia cognitivo-comportamental), está em curso na Hopkins.
“Precisamos desesperadamente de uma nova forma de tratar um vício”, Herbert Kleber me falou. “Nas mãos das pessoas certas – e enfatizo isso, porque toda a área das drogas psicodélicas atrai gente que em geral acha que entende do assunto, mas na verdade não sabe nada –, esse tratamento pode ser muito útil.”
Até o momento, a crítica à pesquisa tem sido restrita. No verão passado, Florian Holsboer, então diretor do Instituto de Psiquiatria Max Planck, de Munique, disse à Science: “Não se pode ministrar uma substância a um paciente só porque ela tem um efeito antidepressivo, entre muitos outros. É extremamente perigoso.” Nora Volkow, do Nida, me enviou um e-mail em que dizia que “a maior preocupação com esse trabalho é induzir o público a pensar que a psilocibina pode ser usada sem problema. Na verdade, os efeitos adversos dessa droga são bem conhecidos, embora não sejam totalmente previsíveis”. E acrescentou: “O uso de alucinógenos tem diminuído, sobretudo entre os jovens. Não gostaríamos que essa tendência se revertesse.”
Sabe-se que o uso recreativo de drogas psicodélicas está relacionado a casos de psicose, flashback e suicídio. Tais efeitos adversos, porém, não ocorreram nos experimentos da NYU e da Johns Hopkins, que envolveram a administração de quase 500 doses de psilocibina. Mas é preciso levar em conta que os participantes se apresentaram espontaneamente, passaram por uma triagem cuidadosa, foram preparados para a experiência e assistidos por terapeutas aptos a lidar com os eventuais episódios de medo e ansiedade. Além das moléculas envolvidas, uma sessão de terapia e uma experiência recreativa têm muito pouco em comum.
Atualmente, o laboratório da Hopkins está desenvolvendo um estudo que interessa particularmente a Griffiths, uma vez que vai examinar o efeito da psilocibina em praticantes de meditação veteranos. Quarenta participantes terão o cérebro monitorado por meio de imagens de Ressonância Nuclear Magnética Funcional (fMRI) – antes, durante e depois de tomar psilocibina, para avaliar alterações na atividade e conectividade cerebral.
O laboratório de Griffiths, em colaboração com a NYU, também está iniciando um estudo para verificar em que medida a experiência da droga, ministrada a sacerdotes de várias religiões, poderia contribuir para o trabalho deles. “Eu me sinto como uma criança numa confeitaria”, Griffiths disse. “A pesquisa pode enveredar por caminhos os mais variados. Vivemos o efeito Bela Adormecida – depois de três décadas sem nenhuma pesquisa, estamos esfregando os olhos para afastar o sono.”
"Inefabilidade” é uma característica da experiência mística. Ao descrever as bizarrices que lhes passam pela cabeça durante uma viagem psicodélica assistida, muitos se esforçam para não dar pinta de maluco ou guru new age. O léxico nem sempre dá conta de relatar uma experiência que parece remover o sujeito de seu corpo, levá-lo a percorrer vastidões de tempo e espaço e colocá-lo face a face com divindades, demônios e antevisões da própria morte.
Voluntários do experimento com psilocibina da NYU foram convidados a redigir um relato da experiência logo após o tratamento, e o jornalista Patrick Mettes levou a tarefa a sério. Sua mulher disse que, depois de uma das sessões – era uma sexta-feira –, ele passou o fim de semana trabalhando para compreender a experiência e descrevê-la.
Quando Mettes chegou ao local do tratamento, na Primeira Avenida com a rua 25, Tony Bossis e Krystallia Kalliontzi, seus tutores, receberam-no, repassaram a programação do dia e, às nove da manhã, deram-lhe uma pílula. Nenhum deles sabia se era placebo ou psilocibina. Perguntaram a Mettes o que ele pretendia ao se inscrever para o experimento, e ele disse que queria aprender a lidar melhor com a ansiedade e o medo do câncer. Atendendo à recomendação dos pesquisadores, levou algumas fotos que foram dispostas no cômodo – uma dele com Lisa, no dia do casamento, outra de Arlo, seu cachorro.
Às nove e meia, Mettes deitou no sofá, colocou os fones nos ouvidos, a máscara nos olhos, e ficou em silêncio. Mais tarde, ele comparou o início da viagem ao lançamento de uma nave espacial – “uma arrancada fisicamente violenta e meio desengonçada que acabou dando lugar à bendita serenidade da ausência de peso”.