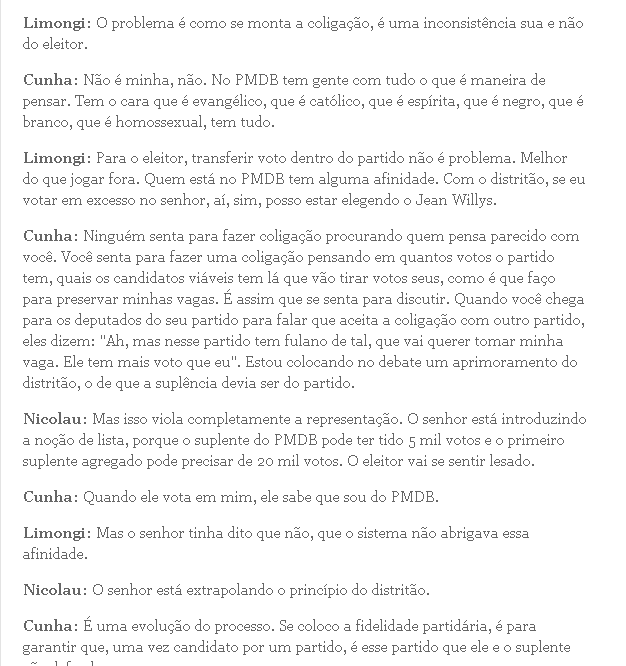Zero Hora 27/05/2015
“Ando tão mexicana...” Certa vez, coloquei essa queixa na boca de uma
personagem de um livro para resumir como ela se sentia depois do fim de
um amor. Ela chorava muito, tinha reações extremadas, dramatizava sua
situação como se estivesse enfiada num vestido floreado e com uma flor
vermelha no cabelo: uma mulher sofrendo sem nenhuma sobriedade.
O
que eu sabia do México na época em que escrevi o livro? Que era um país
colorido, apimentado e de emoções exuberantes – certamente eu estava
induzida pela imagem que tinha de Frida Kahlo, cuja vida e obra se
misturaram adquirindo uma potência que é hoje reconhecida por todos. O
México me parecia um país cuja história e costumes estavam sempre
escancarados, um país sem bastidores, apenas palco. Sofrer com
sobriedade é para escandinavos, não para latinos.
Uma visão
estereotipada, reconheço, mas depois de ter conhecido o México, de onde
voltei recentemente, pude comprovar que eu não estava tão enganada. É um
país que não engaveta seu passado e cujas cores berrantes nas fachadas,
no artesanato e nos murais são um atestado de bravura e de orgulho. O
México se expõe. Eu tinha razão ao adjetivar como mexicana uma mulher
com suas feridas abertas.
Só não sabia que isso nada tinha a ver com vitimização.
Voltemos
a Frida: teve poliomielite aos seis anos de idade. Aos 18, sofreu um
acidente de ônibus que deixou sequelas graves – um pedaço de ferro
entrou pelo seu quadril e saiu pela virilha. Passou por 35 cirurgias.
Engravidou três vezes – e três vezes sofreu abortos espontâneos, não
conseguindo realizar o desejo de ser mãe. Foi amada por seu marido Diego
Rivera, mas teve que dividi-lo com várias outras mulheres, entre elas
sua irmã mais próxima. Esse é apenas um resumo acanhado da biografia da
pintora, sem entrar no mérito de sua arte e de seu engajamento político.
Frida passou por dores torturantes, tanto físicas quanto emocionais, e
em nenhum momento a gente tem dela a imagem de uma coitada. Por quê?
Porque,
ainda que ela tenha revelado todo o seu drama nas telas que legou ao
mundo, choramingar não era seu verbo. Viver, sim. Sofreu sem jamais
perder o viço, o gosto e o entusiasmo pelos dias.
O sofrimento é
um velho conhecido de todos nós, mas costumamos ter pudor com nossas
lágrimas. A maioria das pessoas reparte sua infelicidade só com dois ou
três amigos, às vezes com ninguém. Poucos sofrem com a vitalidade de
Frida, que transformou sua dor em uma causa.
Quando minha
personagem disse “ando tão mexicana”, ela não sabia o que falava e eu
não sabia o que escrevia. Ambas reclamando de uma intensidade que só
hoje reconheço como virtude. Agora sei que sentir-se mexicano é um
elogio, não um estigma.
quarta-feira, 27 de maio de 2015
domingo, 24 de maio de 2015
Bá, agora tu me pegou - Martha Medeiros
Zero Hora 24/05/2015
Tenho
vontade de abraçar afetuosamente aquele que se confessa inapto para explicações
com tanta gente enrolando por aí
O
texto em que condenei os serviços prestados em estabelecimentos comerciais de
Porto Alegre (Chardonnay Tinto, publicada em Zero Hora do dia 13 de maio) teve
um retorno expressivo. Alguns empresários me alertaram de que o problema não se
resume a treinamento há também muita falta de comprometimento dos funcionários,
que optam pelo rodízio de empregos em vez de se dedicar a um plano de carreira.
Feito
este registro, o que restou foi a concordância maciça dos leitores e relatos de
casos engraçados envolvendo atendimentos sofríveis. Da série rir para não
chorar.
O
que mais me divertiu foi uma frase clássica que se aplica em restaurantes no
momento em que pedimos para o garçom esclarecer o modo de preparo de um prato.
Sabe-se que o cliente não tem superpoderes para adivinhar do que se trata o
“Filé Gruta Azul” ou o “Frango à moda do chef” e, se a descrição não está no
cardápio, só resta perguntar: como é que é? Não raro o garçom, simpático e
solícito, responde: “Bá, agora tu me pegou”.
Com
você, nunca?
Não
só em restaurantes. Você entra numa loja e pergunta se tem aquela calça verde
da vitrine, só que na cor preta. “Bá, agora tu me pegou.” Dá para pagar com
cheque? “Bá, agora tu me pegou.” O feriado é na terça, a loja abrirá na
segunda? “Bá, agora tu me pegou.”
É a
expressão que define o atendimento gaúcho. Estão todos os elementos ali. O
orgulho local (“Bá”), nenhuma cerimônia com desconhecidos (“tu”) e a
concordância verbal peculiar (“me pegou”) – sem falar na comédia toda. Pô, o
sujeito não tinha decorado essa parte. Como será feito o raio do Filé Gruta
Azul? É um convite para chutar, mas melhor não. Bora perguntar para o
cozinheiro. E torcer para que ele saiba.
Recentemente,
eu estava na padaria de um súper sem ninguém para atender no balcão quando vi
uma moça uniformizada empilhando umas embalagens ali ao meu lado. Perguntei se
era ela quem atendia naquele setor, e ela confirmou assim: “Tu tá com pressa?”.
Inúmeras
vezes entrei em lojas cujo atendente estava de olho no seu smartphone e nem
levantou a cabeça para dar bom dia, e lembro também... Ah, deixa pra lá, isso
já está virando bullying. Fiquemos com a graça da coisa: “Bá, agora tu me
pegou”.
Tenho
vontade de abraçar afetuosamente aquele que se confessa inapto para
explicações. É um indefeso. Não está preparado para enfrentar perguntas
difíceis. Tanta gente enrolando por aí, enquanto ele revela sua fragilidade sem
subterfúgios. Admite a própria limitação. Mas, obstinado em acertar, vai em
busca da resposta.
“O
cozinheiro disse que o filé Gruta Azul, moça, é na verdade uma maminha
temperada com muita pimenta e que vem acompanhada com batatas ao molho picante
e ervas.”
Ervas
finas ou ordinárias?, você pergunta, só para zoar.
Saudoso e-mail - Martha Medeiros
“Não senhora, você não pode pensar nem cinco, nem dois, nem meio
segundo, precisa escrever feito um raio, num flash, sem pestanejar’’
 O e- mail entrava discretamente na sua caixa de mensagens e ficava ali,
quietinho, aguardando pacientemente o momento em que o destinatário
pudesse lê- lo e respondê-lo. Havia todo o tempo do mundo para isso. A
resposta podia ser bem articulada, revisada e enviada sem nenhuma
aflição. Claro que não era agradável deixar alguém aguardando uma
semana, mas na maioria das vezes não levava tanto tempo assim, o retorno
geralmente era dado no mesmo dia ou no dia seguinte, e isso era
suficiente para comemorar esta vibrante conexão virtual.
O e- mail entrava discretamente na sua caixa de mensagens e ficava ali,
quietinho, aguardando pacientemente o momento em que o destinatário
pudesse lê- lo e respondê-lo. Havia todo o tempo do mundo para isso. A
resposta podia ser bem articulada, revisada e enviada sem nenhuma
aflição. Claro que não era agradável deixar alguém aguardando uma
semana, mas na maioria das vezes não levava tanto tempo assim, o retorno
geralmente era dado no mesmo dia ou no dia seguinte, e isso era
suficiente para comemorar esta vibrante conexão virtual.
Isso foi ontem. Anteontem. Um século atrás. Dá no mesmo.
Agora você troca mensagens instantâneas, um toma-lá-dá-cá que faz todo mundo parecer meio esquizofrênico. A questão do corretor de texto é uma insanidade. “Oi, Patricia!’’ se transforma em “Ouviu, patife!’’ e o que era para ser um gentil cumprimento vira um insulto. Não preciso dar outros exemplos, você passa por isso todos os dias: corrigir com avidez as bananices que o corretor comete à revelia.
Mas o mais grave nem é isso.
É ter que responder de bate-pronto. Eu às vezes não sei exatamente como reagir a algo que me escreveram, gostaria de ter ao menos cinco minutos para processar a informação e entender o que estou sentindo antes de mandar uma resposta, cinco minutos não é tanto tempo assim, é? Ora, em cinco minutos o interlocutor já se atirou do oitavo andar, sentindo-se rejeitado pelo meu silêncio. Não senhora, você não pode pensar nem cinco, nem dois, nem meio segundo, precisa escrever feito um raio, num flash, sem pestanejar, porque o outro está digitando ao mesmo tempo e isso configura um duelo, ganha quem disparar primeiro. Portanto, seja ligeira e tenha presença de espírito — ia esquecendo: é imperativo mostrar que é engraçadinha.
Quando o e-mail surgiu, foi considerado um meio prático, porém frio de
se corresponder. Mas agora que o e-mail foi reduzido a pó pelo Face,
WhatsApp & cia., agora que ele sobrevive apenas para a troca de
mensagens profissionais (e olhe lá), agora que ele respira por
aparelhos, já podemos lembrar, nostálgicos, de como ele era refinado.
Isso foi ontem. Anteontem. Um século atrás. Dá no mesmo.
Agora você troca mensagens instantâneas, um toma-lá-dá-cá que faz todo mundo parecer meio esquizofrênico. A questão do corretor de texto é uma insanidade. “Oi, Patricia!’’ se transforma em “Ouviu, patife!’’ e o que era para ser um gentil cumprimento vira um insulto. Não preciso dar outros exemplos, você passa por isso todos os dias: corrigir com avidez as bananices que o corretor comete à revelia.
Mas o mais grave nem é isso.
É ter que responder de bate-pronto. Eu às vezes não sei exatamente como reagir a algo que me escreveram, gostaria de ter ao menos cinco minutos para processar a informação e entender o que estou sentindo antes de mandar uma resposta, cinco minutos não é tanto tempo assim, é? Ora, em cinco minutos o interlocutor já se atirou do oitavo andar, sentindo-se rejeitado pelo meu silêncio. Não senhora, você não pode pensar nem cinco, nem dois, nem meio segundo, precisa escrever feito um raio, num flash, sem pestanejar, porque o outro está digitando ao mesmo tempo e isso configura um duelo, ganha quem disparar primeiro. Portanto, seja ligeira e tenha presença de espírito — ia esquecendo: é imperativo mostrar que é engraçadinha.
Só que não sou engraçadinha. Sou cautelosa. Ponderada. Gosto de
construir frases. Criar raciocínios. Sou escritora, dê um desconto. Não
consigo me contentar com frase de telegrama, que é uma coisa bem antiga,
se não me falha a memória.
Bom mesmo seria se a gente continuasse a se comunicar frente a frente, transmitindo nosso estado de espírito com o próprio rosto, sem precisar do auxílio de algum emoji. Se a gente pudesse falar com calma e o outro responder com calma. Mas isso parece que também é coisa muito antiga.
Bom mesmo seria se a gente continuasse a se comunicar frente a frente, transmitindo nosso estado de espírito com o próprio rosto, sem precisar do auxílio de algum emoji. Se a gente pudesse falar com calma e o outro responder com calma. Mas isso parece que também é coisa muito antiga.
Nasci atrasada, estou sempre correndo atrás do tempo: aquele tempo que o e-mail me dava pra pensar.
- 24 mai 2015
- O Globo
- Martha Medeiros martha.medeiros@oglobo.com.br
Luzes da ribalta
Luzes da ribalta
Cauby Peixoto volta (mais uma vez) ao
centro da cena, com lançamento de documentário. Ator Diogo Vilela
planeja nova temporada do musical em que interpreta o cantor
Ailton Magioli
Estado de Minas: 24/05/2015| O cantor Cauby Peixoto em registro de 1961.
Hoje, aos 84 anos, ele é tema do documentário Cauby - Começaria tudo
outra vez, que estreia na quinta |
Hoineff é o diretor do documentário Cauby – Começaria tudo outra vez, que estreia na próxima quinta-feira em cinco capitais, incluindo Belo Horizonte. Apesar da demora de quase uma década para a conclusão do filme, o título se manteve todo o tempo na cabeça do cineasta – e sempre pertinente.
Hoineff decidiu abordar a trajetória do cantor – um dos raríssimos remanescentes da era de ouro do rádio brasileiro, ao lado de Angela Maria, 86, confrontando permanentemente o artista e o personagem que ele criou para si.
“O recomeço constante é um desejo do próprio Cauby, que, além das inúmeras plásticas (nunca admitidas), renova o repertório com uma enorme frequência, às vezes para melhor, às vezes para pior”, afirma Hoineff, que diz encontrar paralelos da trajetória do cantor apenas em nomes como os de Beth Carvalho, Caetano Veloso e João Gilberto. “Além do dom vocal, nos shows eles praticamente contam uma história.”
NOVO DISCO Não só a estreia de Cauby – Começaria tudo outra vez está jogando novas luzes sobre o cantor, cujos fãs vão de “uma velinha de 90 anos até um casal de 20 anos”, como observa Hoineff. Até o fim do mês, deve ser lançado o disco Cauby sings Nat King Cole, com shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mais: recuperado da crise provocada pela diabete, o eterno intérprete de Conceição voltará a se apresentar no Bar Brahma, no Centro de São Paulo, onde cumpre temporada semanal há 12 anos.
No filme, Cauby surge literalmente brilhante, vestindo um blaser de tecido resplandescente. A canção escolhida para abrir o documentário é Minha voz, minha vida, composta especialmente para ele, por Caetano Veloso. Ao longo dos 90 minutos de exibição, o público se assenta em três pilares: além da ideia do eterno recomeço, o modelo de interpretação atemporal de Cauby Peixoto e a sinergia entre ele e a plateia, que transcende gerações.
No início do filme, o espectador é levado para o subúrbio carioca (Olaria) onde vive Tadeu Kebian, de 15 anos. Fã incondicional do cantor, que conhece na infância por influência de seu avô, ao ficar sabendo da realização do documentário, ele tomou a iniciativa de entrar em contato com a produção.
Que ninguém vá assistir a Cauby – Começaria tudo outra vez em busca de revelações. Figura historicamente contraditória e dúbia, o cantor até se expressa sobre a sexualidade, admitindo experiências homossexuais na infância. Mas acaba manifestando preconceito sobre o tema, além de se atribuir um romance com a atriz Dorinha Duval, que a própria nega no decorrer do filme.
DUALIDADES Como lembra o biógrafo Rodrigo Faour, em depoimento no filme, ao longo de sua trajetória, o cantor se destacou pelas dualidades: chique e brega, popular e sofisticado, masculino e feminino. Segundo Thiago Marques Luiz, produtor musical de Cauby Peixoto, ele gostou do filme, assim como do musical Cauby! Cauby!, de Flávio Marinho, protagonizado por Diogo Vilela, e da biografia Bastidores – Cauby Peixoto – 50 anos da voz e do mito, de Faour.
Com farto material televisivo de arquivo (TVs Excelsior, Tupi, Globo, Record, CNT e TVE) à sua disposição, Hoineff leva para a tela cenários antológicos como o auditório da Rádio Nacional e a Confeitaria Colombo, além de trazer à tona personagens como Edson Di Veras (1914-2015), o também famoso empresário do cantor, que não poupou esforços para transformá-lo em ídolo. Veras mandou extrair toda a arcada dentária de Cauby, aos 20 anos, para trocá-la por uma prótese, e contratou as famosas “macacas de auditório” que acompanhavam o artista das emissoras de rádio às ruas, sempre aos gritos.
Entre os momentos mais consagradores da carreira do cantor, Nelson Hoineff destaca a volta de Cauby ao Rio, nos anos 1950, depois da temporada americana, onde, além de se encontrar com Nat King Cole, Louis Armstrong, Bing Crosby e Carmen Miranda, fez um único filme em Hollywood (Jamboree, de Roy Lockwwod); e a gravação de um disco com composições originais de Caetano Veloso (Minha voz, minha vida) e Chico Buarque (Bastidores), entre outros astros da MPB, já nos anos 1980. Ainda nos 1950, ele foi o primeiro a interpretar e dançar um rock (Rock’n ’roll em Copacabana), que gravaria a seguir.
Preparando-se para voltar a encenar, no ano que vem, o musical em homenagem a Cauby, Diogo Vilela diz que será a primeira remontagem da carreira dele. “E como disseram que Cauby estava desanimadinho, acho que será uma boa homenageá-lo em vida”, diz o ator.
Para Vilela, trata-se de “um intérprete precioso de canções, que faz parte do inconsciente coletivo brasileiro”, a exemplo do mineiro Ary Barroso, que ele também interpretou no teatro, além de Nelson Gonçalves. “Temos de parar com a nossa falta de memória e aprender a gostar da gente mesmo. No Brasil, vive-se o mito do importado”, afirma Vilela, detentor dos prêmios Shell e da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) pelo espetáculo. Ele ficou dois anos estudando canto e se aperfeiçoando para viver Cauby.
Um cantor polêmico que se fez eterno
Rodrigo Faour*
Hoje, todo mundo fala
bem de Cauby. Ainda bem! Mas nem sempre foi assim. Cantor polêmico,
incomodou muita gente no início de sua explosão, a partir da gravação de
Blue gardenia, seu primeiro grande sucesso, em 1954. Ocorre que foi
lançado com uma agressiva estratégia de marketing do saudoso empresário
Di Veras, para que em pouco tempo se tornasse “o maior cantor do
Brasil”, o que de fato se concretizou.
Para conseguir manter os holofotes de uma indústria cultural ainda em formação sobre seu pupilo, valia quase tudo o que depois passou a ser banal com outros artistas: deu-lhe um banho de loja, plantou notícias, criou slogans, sugestionou que as fãs suspirassem e desmaiassem por ele... Fora o fato de que nem sempre se conseguia ouvi-lo direito no rádio, porque suas fãs estavam numa constante histeria coletiva.
Os mais refinados torciam o nariz, ainda mais que o rapaz tinha um jeito delicado, incomum para um país ainda mais machista do que hoje. O tempo passou, o repertório de grandes versões e sambas-canções acrescentou bossas novas e umas breguices aqui e ali. Depois, mais longe dos estúdios, virou o rei da noite, cantando em boates – até na de sua propriedade, o Drink, em Copacabana, entre 1964 e 1968 – e churrascarias do país inteiro.
Em 1980, a redenção! Munido de um repertório reciclado e de uma nova estratégia de marketing, desta vez da Rede Globo e da Som Livre, Cauby voltou à moda – e ganhou aquilo que lhe faltava, o prestígio dos formadores de opinião, incluindo a grande imprensa. Descobriram que Cauby era um grande cantor subestimado.
E a partir de então, não passa cinco anos sem que alguém o redescubra e seu legado venha à tona. E ele soube tirar partido disso. Em busca do tempo perdido, gravou muito. Tudo o que quis e em outros tempos não teve oportunidade. Além disso, manteve o estilo, o glamour, a delicadeza e a extravagância, mostrando que imagem, voz, estilo e respeito ao público podem ser eternos.
*Rodrigo Faour é jornalista, produtor, historiador de música brasileira e biógrafo de Cauby Peixoto
Para conseguir manter os holofotes de uma indústria cultural ainda em formação sobre seu pupilo, valia quase tudo o que depois passou a ser banal com outros artistas: deu-lhe um banho de loja, plantou notícias, criou slogans, sugestionou que as fãs suspirassem e desmaiassem por ele... Fora o fato de que nem sempre se conseguia ouvi-lo direito no rádio, porque suas fãs estavam numa constante histeria coletiva.
Os mais refinados torciam o nariz, ainda mais que o rapaz tinha um jeito delicado, incomum para um país ainda mais machista do que hoje. O tempo passou, o repertório de grandes versões e sambas-canções acrescentou bossas novas e umas breguices aqui e ali. Depois, mais longe dos estúdios, virou o rei da noite, cantando em boates – até na de sua propriedade, o Drink, em Copacabana, entre 1964 e 1968 – e churrascarias do país inteiro.
Em 1980, a redenção! Munido de um repertório reciclado e de uma nova estratégia de marketing, desta vez da Rede Globo e da Som Livre, Cauby voltou à moda – e ganhou aquilo que lhe faltava, o prestígio dos formadores de opinião, incluindo a grande imprensa. Descobriram que Cauby era um grande cantor subestimado.
E a partir de então, não passa cinco anos sem que alguém o redescubra e seu legado venha à tona. E ele soube tirar partido disso. Em busca do tempo perdido, gravou muito. Tudo o que quis e em outros tempos não teve oportunidade. Além disso, manteve o estilo, o glamour, a delicadeza e a extravagância, mostrando que imagem, voz, estilo e respeito ao público podem ser eternos.
*Rodrigo Faour é jornalista, produtor, historiador de música brasileira e biógrafo de Cauby Peixoto
EM DIA COM A PSICANÁLISE » Consumidos pelo excesso
Regina Teixeira da Costa
Estado de Minas: 24/05/2015 Não é só isso. De fato, moramos em grandes cidades, o deslocamento é mais difícil por causa das distâncias e do trânsito geralmente caótico. Tempo é dinheiro! Trabalha-se muito mais. Pra comprar coisas que nem usamos tanto, somos seduzidos pela oferta excessiva . Outro dia, peguei o caderno Divirta-se para ver o que ele trazia sobre o Bairro do Prado. A profusão de bares, restaurantes e pizzarias me surpreendeu.
A semana é curta para tanto trabalho. O fim de semana é curto para tanta oferta. Exposições, cinema, amigos e ainda descansar. O sentimento é de que todo o tempo é pouco para tanto. Não bastassem os aspectos externos que citei, ainda somos dotados da tal da subjetividade. Não estou reclamando... Seria contraditório, afinal, sou psicanalista, vivo disso!
Atentar para o desejo é algo que devemos praticar sempre, senão a demanda te suga inteiro. E não só a demanda externa, os atrativos sociais, culturais, os amigos, malhação, compras e tantas ofertas. Nós também somos cativos da demanda de amor. Por ele, deixamos o desejo de lado. Esse desejo te obriga a fazer cortes, que aliviam, evidentemente, mas para muitos são extremamente difíceis...
Queremos atender o outro para sermos amados. Temos dificuldade em abrir mão dos programas, perder uma coisa ou outra, pois ainda inventaram mais um imperativo categórico para nos torturar: quem não é visto não é lembrado!!! Quem inventou isso deve ser algum publicitário fissurado da propaganda, a serviço de sabe-se lá quais interesses.
Esse imperativo me dá verdadeiro pavor. Se fôssemos atendê-lo, correríamos o risco de ficar tal e qual temia a mãe de uma amiga de adolescência, que dizia: “Não vai sair todo dia, nem ir a todas as festas, senão vai ficar igual a arroz-doce”. Naquela época, isso doía nos nossos ouvidos. Hoje, seria um bálsamo sagrado!!!
É muito bom quando podemos dizer para nós mesmos que neste fim de semana ficamos por conta própria, só vamos fazer o que quisermos, sem compromisso a não ser com o desejo. E ninguém poderá nos corromper com seduções deliciosamente convidativas.
Afinal, se se esquecerem da gente, pegamos o telefone. Nada que um bom papo não resolva, matando saudades e preparando o próximo encontro. Infelizmente, hoje em dia as pessoas perderam a boa educação: convidam e resolvem tudo por WhatsApp!!! Que deselegância um moço chamar uma moça pra sair sem gastar um telefonema... Isso não é de bom agouro. Preservar um pouco dos homens de antigamente não faria mal nenhum – e de mulheres também. Afinal, até para encontros amorosos a pressa é o tom mais comum: sair e ir logo às vias de fato, sem tecer o afeto. Passado o afã da atração, nada resta. A maioria das pessoas se sente exilada e nem sabe dizer por quê!
Na pressa de amar, perde-se o amor, porque amor não obedece a vontades. Ele tem o seu tempo, e, caso não possamos lidar com ele com menos ansiedade, abortam-se as chances.
Viver é difícil de suportar, dizia Freud em O mal-estar na civilização (1927), porque a realidade nos contraria, decepciona, frustra, faz sofrer. E a busca incansável pela felicidade, essa busca que cada um faz a seu modo, produz maior sofrimento. Talvez a correria deste nosso tempo de mil ofertas atenda a um mecanismo de defesa, levando-nos a viver correndo para evitar sentir o que quer que seja.
Estamos sempre em desarmonia no quesito felicidade total. O outro, entre outras fontes de sofrimento, é a maior delas: nunca é o que esperamos. Porque é um chato? Não. É que o desejo é único e intransferível. Talvez por isso devamos ir mais devagar. Não adianta ir com tanta sede ao pote, atropeladamente, sem respeitar o espaço, o tempo e a sensibilidade do outro. Então, tem horas em que o menos vale mais. Mesmo.
sábado, 23 de maio de 2015
quarta-feira, 20 de maio de 2015
Pega-ratão - Martha Medeiros
Zero Hora 20/05/2015
Outro
dia usei uma expressão que andava sumida do meu vocabulário: pega-ratão. De
onde saiu isso?
Há quem
diga que é o mesmo que uma pegadinha, mas não vejo assim. Pegadinha é uma piada
que logo se assume como tal. Alguém envolve você numa situação que parece
verdadeira, mas no instante seguinte revela que não era pra valer, estava
apenas se divertindo com a sua reação. O objetivo era fazer todos darem risada,
uns antes (os que arquitetaram a brincadeira), e depois o pobre do mané ao
descobrir a tramoia da qual foi vítima. Qual a saída dele a não ser rir também?
Pegadinha é isso, um pega-ratinho.
Pega-ratão,
como o superlativo indica, é uma armadilha mais engenhosa e que não é revelada
nem antes nem depois: os mentores jamais admitirão que tentaram engambelar. Alegarão
que não ousariam cometer essa deselegância conosco, os ratões, pessoas bem-informadas,
que pagam ingressos caros para ver um show, para visitar uma exposição e até mesmo
para comer um determinado prato num restaurante da moda. Para pegar um ratão, é
necessária uma artimanha sofisticada e de preferência amparada pela mídia, que
também pode ter entrado de gaiata.
Salvo
exceções, considero que instalações artísticas são uma espécie de pega-ratão
com um verniz intelectualizado. Se eu estiver sendo muito provinciana, aceito
humildemente a crítica e o xingamento, mas o fato é que quase nunca entendo o
que significam aquelas latarias, ferragens, cordas caindo do teto e demais
materiais inorgânicos (às vezes, orgânicos) promovidos a arte moderna, bastando
um holofote jogado em cima.
Restaurante
minimalista, com pratos insípidos e minúsculos custando a bagatela de R$ 80: pega-ratão.
A recompensa talvez seja a publicação da foto da guloseima no Instagram e o
cliente ter o nome publicado na coluna social, o que uma macarronada honesta
num restaurante simples não proporcionaria – macarronada sacia sua fome, não
seu apetite de status.
Encontros
às escuras, anúncios de apartamentos “nobres” em que os quartos são menores do
que banheiros, filmes que se anunciam como continuação de um sucesso: tudo pega-ratão.
Está passando nos cinemas um tal Divã a 2, cujo cartaz possui a mesma programação
visual do filme baseado no meu livro Divã e que teve excelente bilheteria em 2009,
com a grande Lilia Cabral liderando o elenco, além de roteiro de Marcelo Saback
e direção de José Alvarenga Jr, todos feras.
Pois, afora esse cartaz enganoso,
o filme atual não conta com o mesmo elenco, nem a mesma equipe e não tem nada a
ver com meu livro. Por falta de estofo próprio, recorreu à armadilha de colocar
um número 2 no título para – nhac! – atrair os desavisados.
Então,
esteja avisado. Os ratos estão do outro lado do balcão.
terça-feira, 19 de maio de 2015
"Cobras" de ontem, experts de hoje
Os primeiros smarts
nasceram nos anos 1990, as lojas virtuais, em 2003. A combinação dos
dois fez surgirem os desenvolvedores, e eles mudaram o jogo para sempre
Mirelle Pinheiro
Estado de Minas: 19/05/2015“As inovações trazidas por aparelhos lançados há duas décadas possibilitaram a criação de aplicativos mais interessantes, por causa dos recursos que traziam embarcados. Também ampliaram a base de usuários potenciais. Hoje, por exemplo, temos, no mundo, mais usuários de smartphones do que de computadores tradicionais”, avalia o professor de Inteligência Artificial do Centro Universitário de Brasília (UniCeub) Paulo Rogério Foina, nesta segunda reportagem sobre aplicativos.
Em uma manhã de 1994, o mercado norte-americano acordou com o protótipo de um dispositivo que pode clamar a paternidade – nessa mesma fila há versões suecas e japonesas – dos atuais smartphones: o Simon Personal Communicator, da IBM. Ele vendeu 50 mil unidades nos Estados Unidos, até fevereiro de 1995, quando deixou de ser fabricado, tinha tela sensível ao toque e acesso rápido a e-mails, numa época em que a internet engatinhava. Custava de US$ 599 a US$ 1 mil.
Naquela época, os aplicativos eram um recheio ainda simplório de hardwares não muito mais avançados. Mais do que a velocidade de processamento e as inúmeras funcionalidades de hoje, a principal diferença estava na produção. A indústria entendia o software como propriedade de quem vendia o dispositivo, e não de terceiros. Assim, as primeiras aplicações desenvolvidas para celulares acessavam e-mails, aparelhos de fax, calendários, agendas e blocos de anotações, mas nada muito além disso, até porque a produção era restrita.
Independentes Com lojas virtuais de aplicativos ao alcance de dois cliques nos dias de hoje, recuperar o mercado de uma década atrás ajuda a entender a evolução de todo o processo. O predecessor das atuais stores surgiu há 12 anos, mais de cinco antes da App Store, que acabou popularizando o mercado. Em 2003, foi ao ar a norte-americana Handango, uma das primeiras lojas com pequenos softwares para embrionários smartphones e PDAs (personal digital assistants). Fundada pelo texano Randy Eisenman, a Handango também contava com um programa, o Handango InHand, que tornou possível procurar e instalar apps, gratuitos ou pagos, games, temas e ringtones nos aparelhos, sem a necessidade de conectá-los a computadores.
No ano de lançamento, o InHand trouxe prateleiras virtuais para smartphones que usavam o sistema operacional Symbian, como alguns modelos da Sony Ericsson, Motorola e Nokia. Posteriormente, passou a funcionar em dispositivos que rodavam BlackBerry, Windows Mobile, Palm OS e Android, e reuniu cerca de 50 mil aplicativos em seu catálogo. Além do sistema de buscas de apps, o InHand também permitia aos usuários descrevê-los e avaliá-los.
Iniciava-se ali a era em que os programas não mais eram propriedade das empresas de hardware, e sim de desenvolvedores independentes, uma mudança que acabou consolidada, de vez, com a App Store, a partir de julho de 2008. “Foi, sem dúvida, a grande revolução. Uma loja virtual para o iPhone, com apenas 500 aplicativos, quase todos desenvolvidos por pessoas sem nenhum vinculo empregatício”, destaca o professor de desenvolvimento de sistemas, Michel Carmo Lopes, da Universidade Católica de Brasília (UCB).
A inauguração da App Store também serviu para criar dezenas de milhares de empregos em torno desta nova indústria. Segundo balanço da Apple, em apenas seis anos, o desenvolvimento do iOS ajudou a fomentar 627 mil postos de trabalho somente nos Estados Unidos e as vendas relacionadas às ofertas dos produtos que integram a plataforma passam das dezenas de bilhões de dólares. Há sete anos, nada disso existia.
“Com essa jogada, a tradicional empresa, que sempre foi conhecida por ser resguardada e pelos produtos ‘fechados’, observou um nicho no mercado que poderia mudar o mundo, o que de fato ocorreu”, acrescenta Lopes.
Do Simon a Jobs
Como o mercado de aparelhos móveis mudou adicalmente em um espaço de tempo tão curto
Modelo: Simon Personal Communicator
Fabricante: IBM
Ano de lançamento: 1994
Com tela sensível ao toque, o Simon Personal Communicator era capaz de acessar e enviar e-mails e fax, além de conter aplicativos básicos como agenda, calendário, bloco de notas, calculadora e relógio.
Vendeu 50 mil unidades e deixou de ser fabricado em 1995.
Modelo: Hagenuk MT-2000
Fabricante: Hagenuk
Ano de lançamento: 1994
Embora não seja considerado, de fato, um smartphone – não havia conexão à internet, por exemplo –, o Hagenuk MT-2000 inovou o universo dos mobiles e trouxe o primeiro jogo disponível a um aparelho móvel: uma versão especialmente produzida do tradicional Tetris. Também foi o primeiro modelo a apresentar antena interna. Pena que, em uso extremo, a bateria só
durava uma hora.
Modelo: Nokia 9000 Communicator
Fabricante: Nokia
Ano de lançamento: 1996
Com dois teclados – um alfanumérico, para ligações, e um estilo QWERTY, para navegação – e memória de 8MB, o Nokia 9000 Communicator rodava com sistema operacional GEOS 3.0. Além do acesso a e-mails e faxes, também tinha calendário, bloco de notas, calculadora, calendário, leitura e edição de arquivos
de texto e inovações no serviço de SMS.
Modelo: Ericsson R380
Fabricante: Ericsson
Ano de lançamento: 2000
Com o Ericsson R380 surgiu o título smartphone. O aparelho foi o primeiro a rodar um sistema operacional e uma interface considerados modernos, ambos da Symbian. Embora não permitisse que usuários fizessem o download de softwares, o modelo sincronizava com produtos da Microsoft, acessava internet e tinha games e aplicativos básicos. Desenvolvido na Suécia, o Ericsson R380 custava US$ 700.
Modelo: Kyocera QCP 6035
Fabricante: Kyocera
Ano de lançamento: 2001
Rodando o sistema operacional Palm OS, podia ser usado como celular e como uma espécie de palmtop, bastando abrir ou fechar o flip. Com aplicativos de escritório e conexão (lenta) à internet, foi o primeiro smartphone a desembarcar no Brasil. Por aqui, quem quisesse o brinquedo tinha de desembolsar R$ 2,8 mil à época.
Modelo: BlackBerry 6210
Fabricante: RIM
Ano de lançamento: 2003
Modelo que inovou ao trazer o BlackBerry Messenger, um upgrade no serviço de trocas de mensagens instantâneas e — por que não? – o pai do WhatsApp. O 6210 também foi um dos primeiros smartphones a fazer sucesso com pacote GSM/GPRS, tecnologia que aumenta transferência de dados e deixa a conexão mais veloz.
Modelo: iPhone
Fabricante: Apple
Ano de lançamento: 2007
O iPhone de Steve Jobs mudou o modo como o mundo enxergava os smartphones. O modelo trouxe o sistema operacional iOS – veloz e potente –, e cerca de 500 aplicativos para que os usuários pudessem instalá-los ou desinstalá-los livremente, tela sensível ao toque e, o mais imporante, uma revolução em hardware que obrigou a concorrência a investir pesadamente no setor.
domingo, 17 de maio de 2015
EM DIA COM A PSICANáLISE » Um pequeno grande esclarecimento
Regina Teixeira da Costa
Estado de Minas: 17/05/2015 As crias humanas não. Precisam ser cuidadas, alimentadas e levam anos para ser lapidadas pela educação, quando o são. Primeiro, pela família, que lhes permite entender a cultura. Depois, a escola tenta completar essa educação, sempre falha, porque não aceitamos facilmente o sacrifício de nossos instintos naturais. A agressividade inata, o gosto pelo prazer, a sexualidade, o desejo edípico de amar um dos pais possessivamente e se livrar do outro – tudo isso será reprimido.
Deixar de fazer o que se quer para assumir obrigações e responsabilidades tem um alto preço, ao qual nos obriga a moral civilizada. Para suportar a vida como ela é, tornamo-nos neuróticos, na melhor das hipóteses. E não sem mal-estar. Diante de privações, frustrações e castração necessárias, muitos dos desejos primitivos devem ser esquecidos. Ou, como dizemos, recalcados. Mas eles não se esquecem de nós. Permanecem vivos no inconsciente.
Todo esse trabalho de repressão deixa rastros que chamamos sintomas. Como a febre aponta a doença, o sofrimento sinaliza as raízes inconscientes dos sintomas. Seguimos seus rastros durante o tratamento – como ocorre com a asma, as constipações, a gagueira, as dificuldades de aprendizado, etc.
Freud foi um bom investigador. Seguindo os sofrimentos, era sensível intérprete da subjetividade. A partir de seu texto sobre o narcisismo, de 1914, o eu será entendido, dessa época em diante, como objeto de possível fixação da libido do sujeito, isto é, pode ser um objeto de amor. Amor de si mesmo.
Certas partes ou funções do eu podem se separar como que por rachaduras. Se elas não se deixam notar nos indivíduos normais, aparecem abertamente nos casos patológicos, pois esses últimos nos mostram de forma exacerbada aquilo que se encontra de forma microscópica nos casos normais.
Disse Freud: se atirarmos ao chão um cristal, ele se parte, mas não em pedaços ao acaso. Ele se desfaz segundo linhas de clivagem em fragmentos cujos limites, embora invisíveis, estão “predeterminados” por estruturas do cristal. Essas estruturas são evidências da verdade esquecida, porém viva.
Além de tudo isso, o eu, mais uma vez, se divide e a uma parte dele chamamos supereu. Um vigilante juízo tirânico que nos castiga, nos obrigando ao que nem queremos, porque sabe de nossos esquecidos desejos proibidos e não se engana com a polidez adquirida pela educação.
Incapaz de perdoar os mais antigos conteúdos primitivos, ele age como se ainda os praticássemos em intenção e aplica o castigo correspondente ao ido, ao fantasiado, e não ao atual. Faz-nos repetir incansável e dolorosamente um mal-estar pelo conflito entre eu, supereu e inconsciente na forma de um sentimento de culpa moral. Pelo esquecido em estado natural, como se fôssemos livres de qualquer lapidação moralizante.
A vida em comunidade seria impossível sem os limites da lei moral, pois nos mataríamos quando desejássemos, sem nenhum remorso. Tomaríamos pela força o que quiséssemos, como as crianças, sem culpa. Sofreríamos menos? Sobreviveríamos? Viveriam os fortes como os leões. A lei é o nosso pacto garantidor. Ainda assim, alguns a recusam, ignorando a condição da sobrevivência da civilização e da espécie.
O preço que pagamos sob a égide da lei é o sentimento de culpa pelo que não recordamos, mas que se mostra por meio de sintomas. Ou por meio dos sonhos que relaxam a vigília do supereu. Isso explica a origem de muitas insônias. Quando dormimos, revelam-se distorcidos desejos condenados à luz da consciência. Por isso nos chamamos neuróticos: por esse conflito interminável em que vivemos entre a consciência, o inconsciente e o supereu. A análise é capaz de esclarecer e de nos fazer entender que não merecemos ser infelizes por eles, pois o que vale agora é o que somos e como agimos. Já pagamos o preço da vida em comum abandonando, por amor ao próximo, os instintos mais primitivos. Esse é nosso maior tributo à cultura, mesmo que de forma falha e incompleta.
sábado, 16 de maio de 2015
Estudo mostra que cérebro de insetos tem neurônios com localização espacial
O caminho das moscas
Cérebro dos insetos tem uma rede de
neurônios responsável pela localização espacial semelhante à das
pessoas. Descoberta ajudará a entender melhor o funcionamento da mente
humana
Roberta Machado
Estado de Minas: 16/05/2015| Para estudar o cérebro das moscas, os cientistas as fizeram andar sobre uma esfera enquanto obstáculos virtuais eram mostrados para os insetos |
Para compreender esse mecanismo, os pesquisadores fixaram os insetos pela cabeça e os colocaram sobre uma esfera móvel. Conforme eles caminhavam sobre a bola, um sistema de realidade virtual acompanhava os movimentos das moscas, como se elas estivessem andando por um cenário de verdade. Dessa forma, os cientistas podiam controlar mudanças no ambiente e ver, por meio de sensores que monitoravam a mente dos bichos, se eles buscavam se desviar dos obstáculos virtuais que por ventura surgiam no caminho.
O experimento mostrou que as moscas confiam mais nas imagens que veem do que na própria noção de direção. Se o cenário virtual mudasse de direção ou se movesse em uma velocidade diferente da do inseto, o cérebro do animal tendia a corrigir o seu mapa mental de acordo com o que ele via. “Alguns dos truques algorítmicos que o nosso cérebro usa para a navegação também podem ser usado pelas moscas, embora o cérebro delas, quase certamente, não tenha toda a complexidade do nosso nesse quesito”, explica ao Estado de Minas Vivek Jayaraman, principal autor do trabalho e pesquisador do Howard Hughes Medical Institute, nos Estados Unidos.
Estudos feitos com gafanhotos e borboletas também já haviam mostrado que insetos formam mapas mentais de acordo com informações do ambiente. E experimentos realizados pelo Instituto de Neurobiologia da Universidade Livre de Berlim concluíram que abelhas são capazes de encontrar o caminho para a colmeia com a ajuda de referências geográficas, mesmo quando os pesquisadores tentavam enganá-las ao colocá-las num ambiente com a posição do sol modificada.
A pesquisa de Jayaraman, contudo, é a primeira evidência de que os insetos têm neurônios que processam a “direção de cabeça”, encontrados até então somente em mamíferos. Esse guia mental fica no complexo central do cérebro dos insetos, uma região similar aos gânglios da base da mente humana, responsáveis pela cognição. O sistema é parecido com uma bússola, formada por um conjunto de neurônios arranjados em círculo. Nesse anel neurológico, há um ponto de células que indica para que direção o animal está olhando. Se o bicho se vira um pouco para a direita, por exemplo, o ponto ativo também se desloca para a mesma direção dentro do círculo, de acordo com a referência visual do animal em relação ao espaço.
Assim como nos mamíferos, a bússola interna das moscas continua funcionando mesmo quando o bicho fica imóvel. Em experimentos feitos na ausência de luz, os insetos mostraram que também são capazes de se localizar graças a essa bússola interna. “O sistema também funciona no escuro. Mas, assim como nós, as moscas parecem perder sua orientação depois de um tempo no breu. A bússola interna acumula erros com o tempo, no nosso cérebro e no das moscas”, ressalta Jayaraman.
Cognição A semelhança entre moscas e humanos é um fator muito valioso para os cientistas, que podem usar os insetos em uma grande variedade de estudos sobre a cognição espacial das pessoas. Como o cérebro dos pequenos seres é muito mais simples, torna-se mais fácil observar e descrever a dinâmica mental desses animais e desenvolver hipóteses sobre a mente das pessoas.
“Esse trabalho vai mudar a ciência, porque revela que um problema fundamental na cognição, que é como eu sei onde estou no mundo, tem uma resposta potencialmente mais simples do que pensávamos, e é muito mais comum na evolução do que o esperado”, ressalta Thomas Chandinin, do Departamento de Neurobiologia da Universidade de Stanford.
O pesquisador norte-americano não participou dessa pesquisa, mas publicou, no ano passado, um artigo em que mostra similaridades entre o processamento visual das moscas e o dos humanos. “Mesmo que os olhos (das duas espécies) sejam muito diferentes, o trabalho de Jayaraman leva essa similaridade a um novo nível, já que se imaginava que as ‘bússolas’ fossem uma invenção exclusiva dos vertebrados”, afirma Chandinin.
sexta-feira, 15 de maio de 2015
Questão de pele
Reação indignada do
uso do black face, em que brancos interpretam negros, em espetáculo
paulista provoca suspensão e mudança da peça. Participantes da Mostra
Benjamin de Oliveira em BH comentam a questão
Carolina Braga
Estado de Minas: 15/05/2015 | Cena de A mulher do trem, da companhia Os Fofos Encenam, com Cris Rocha, Zé Valdir, Katia Daher e Carlos Ataide. Ao fundo, personagem usa o recurso black face |
“O mais triste é que a cada vez que apresentamos Madame Satã algo novo entra no texto como denúncia”, lamenta o ator e diretor Rodrigo Jerônimo. Foi assim que entraram manifestações de apoio à travesti Verônica e agora é a vez da polêmica do black face, em que atores brancos se pintam com tinta preta para representar papéis de negros (leia quadro nesta página).
Dirigido por João das Neves, Madame Satã é uma das atrações da Mostra Benjamin de Oliveira, em cartaz no Oi Futuro Klauss Vianna. Na próxima quarta, a citação ao black face estará no meio do espetáculo, no momento em que o protagonista é agredido verbalmente por um policial.
“Lutamos muito para ter representatividade em tantos espaços. No entanto, sempre se reproduz o estereótipo. A gente fica um pouco abismada e, sinceramente, acho que não cabe mais”, afirma o ator.
Em sua terceira edição, a Mostra Benjamin de Oliveira é um espaço de difusão e valorização do trabalho de atores e atrizes negros. Além dos espetáculos, estão agendados debates. Amanhã, haverá uma roda de conversa com o Coletivo Negro (SP). Na quinta, o tema é o livro Africanidades e relações raciais: insumo para políticas públicas na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil.
“É revoltante ter que trazer essa discussão até hoje”, diz Rodrigo Jerônimo. “O negro não quer ser representado, ele existe. Assim como o branco. O black face não faz sentido. É muito difícil querer justificar isso esteticamente nesse momento que estamos vivendo”, diz a produtora Aline Vila Real, integrante do Grupo Espanca!.
A polêmica em torno do black face começou no início deste mês, pela internet. A companhia paulistana Os Fofos Encenam anunciou novas apresentações da peça A mulher do trem, parte do repertório do grupo desde 2003. A estudante de arquitetura Stephanie Ribeiro viu a foto da montagem no material de divulgação nas redes sociais. Nela, ao fundo, estava o ator em black face, ou seja, com o rosto pintado de preto.
“Comentei nas fotos do evento e no evento em si e isso gerou repercussão. Então, saiu uma nota d’Os Fofos que relativizava, explicando a questão das máscaras”, conta ela. Não satisfeita, criou na mesma rede social a mobilização que culminou na realização, na última quarta, em São Paulo, do debate “Arte e sociedade: a representação do negro.”
“Estamos numa sociedade desigual, racista, opressora, que é marcada pelo genocídio do povo negro. Se a arte não entende isso e usa seus meios para agir, acho que vivemos num momento de comodismo, onde é mais fácil fazer releituras de anos e anos atrás do que criação de algo que ponha o dedo na ferida”, critica Stephanie.
Durante o debate de anteontem, Fernando Neves, diretor da cia. Os Fofos Encenam, anunciou que o black face, tratado por ele como uma máscara teatral, sairá de cena. “Porque ela não foi criada para causar dor em ninguém [...] Apoio essas falas que ouvi até agora tão sábias, apoio plenamente. O que vai acontecer é que a gente vai retrabalhar. Quero agradecer muito e pedir desculpas a todos que eu tenha ofendido”, afirmou.
O cineasta Joel Zito Araújo elogiou a atitude do grupo. Segundo ele, há dois aspectos dessa polêmica que surpreendem mais. Um é o fato de a peça haver estreado em 2003 e, desde então, ignorar a representação racista que o black face significa. “O debate criou também um paradoxo muito estranho – o que é mais importante: lutar contra o racismo ou defender a liberdade de expressão. Isso não faz o menor sentido.” Para ele, o fato positivo dessa história é que agora a sociedade reagiu.
Para o ator Sidney Santiago, fundador do grupo Os Crespos, o debate ainda tem muito a avançar. “Ainda não conseguimos efetuar um debate sobre representação negra. Ainda estamos legislando sobre legitimidade”, pontua. Durante o encontro, Stephanie Ribeiro ressaltou: “A representatividade num país onde 54% da população é negra não deveria nem ser discutida. Então, quando a gente se manifesta, a gente não está censurando, a gente só está pautando o que ninguém tinha pautado antes, porque não tem a nossa vivência”.
Como Joel Zito Araújo ressalta, a proporção que a situação tomou surpreendeu muita gente, principalmente os integrantes do grupo. Tal espanto tem seu lado positivo. “Essas coisas são feitas para criar na sociedade um policiamento em relação a práticas condenáveis, perversas”, conclui.
ENTENDA O CASO
2/5/2015
» O grupo de teatro paulista Os Fofos Encenam anuncia a apresentação da peça A mulher do trem no Itaú Cultural, em São Paulo, para 12 de maio.
» A estudante de arquitetura Stephanie Ribeiro vê o ator com a máscara do black face no anúncio do espetáculo e revolta-se. Publica no Blogueiras Negras um texto de repúdio e cria no Facebook o movimento #nãovaiterblackface
3/5/2015
» A apresentação é cancelada e, em seu lugar, é realizado o debate “Arte e sociedade: a representação do negro”
12/5/2015
» Os Fofos Encenam decide que as máscaras sairão de cena.
MOSTRA
A Mostra Benjamin de Oliveira fica em cartaz no Teatro Oi Futuro Klauss Vianna (Avenida Afonso Pena, 4.001 - Mangabeiras) até o dia 24 deste mês. Entre os destaques da programação deste fim de semana estão a apresentação de hoje, às 20h, de {ENTRE}, do Coletivo Negro (SP). Amanhã tem Sapiências e Transbordas, da Laia Cia de Danças Urbanas. A curadoria é de Grace Passô, Mauricio Tizumba e Alexandre de Sena. Entrada franca. Informações: burlantins.com.br/benjami.
SAIBA MAIS
O que é black face?
É uma técnica com maquiagem teatral para dar a aparência de negros a atores brancos, que se originou nos Estados Unidos, especialmente depois da Guerra Civil americana (1861-1865). Era usada em espetáculos de entretenimento, piadas, música e dança, e o personagem em black face representava o estereótipo do afro-americano. A tradição começou em 1830 e foi forte nos EUA por quase 100 anos. Ficou também famosa internacionalmente, sobretudo na Inglaterra. No Brasil, o black face mais famoso é o do ator Sérgio Cardoso, que interpretou um negro na novela A cabana do Pai Tomás (Globo, 1969). Sérgio Cardoso foi pintado, usava peruca e rolhas no nariz para ficar parecido com um negro.
quinta-feira, 14 de maio de 2015
Tempo amigo da mente
Estudos começam a
questionar a ideia de que o cérebro entra em declínio completo com o
passar dos anos e sugerem que algumas habilidades atingem o ápice na
terceira idade
Paloma Oliveto
Estado de Minas: 14/05/2015Nas últimas décadas, as pesquisas melhoraram muito o conhecimento que se tem sobre o cérebro, ainda tão misterioso. Há até muito pouco tempo, por exemplo, acreditava-se que não existia reposição de neurônios. Agora, já se sabe que, até o fim da vida, novas células cerebrais são produzidas, mesmo que em menor quantidade. Outro conceito importante que vem mudando a neurociência é o da plasticidade, ou seja, a capacidade do órgão de se reorganizar, compensando funções comprometidas.
Essas descobertas começaram a pôr em dúvida diversas crenças. Um dos cientistas que questionam o lugar-comum do envelhecimento da mente é Joshua Hartshorne, pós-doutorando do prestigioso Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Com a colega Laura Germine, da Universidade de Harvard e do Hospital Geral de Massachusetts, o neurocientista resolveu investigar se o declínio cognitivo vem, necessariamente, com a idade avançada. O resultado, publicado na revista Psychologycal Science, foi surpreendente.
O desempenho de 50 mil pessoas de 10 a 89 anos em uma bateria de testes cognitivos on-line levou Hartshorne e Germine à conclusão de que, enquanto algumas funções diminuem com a idade, outras melhoram – e muito. Determinadas habilidades vão atingir o pico somente entre os 60 e os 70 anos. Para os neurocientistas, essa é mais uma evidência de que a dicotomia velho/novo está ultrapassada e precisa ser adaptada aos conhecimentos atuais sobre o funcionamento do cérebro. “Os efeitos do envelhecimento sobre a cognição têm muito mais nuances do que sugere a simples divisão entre inteligência cristalizada e inteligência fluida”, afirma Hartshorne.
Complexidade Segundo essa classificação, existem dois tipos de habilidade cognitiva. A cristalizada refere-se a conhecimentos sólidos, adquiridos ao longo do tempo. Não há dúvidas de que, com o tempo, tende-se a saber mais. Dentro de uma mesma realidade socioeconômica e cultural, uma pessoa mais velha muito provavelmente se sairá melhor em testes de vocabulário e conhecimentos gerais, por exemplo, que a mais nova. Isso apenas por ter vivido mais tempo. Já a inteligência fluida está associada à capacidade de resolução imediata de problemas — ou seja, ser esperto, sagaz e de raciocínio rápido. Ela é mais prática e mais afiada em jovens.
O problema com essa divisão etária simples, segundo Hartshorne, é que ela não leva em consideração a complexidade das funções cognitivas. “De fato, muitas habilidades, especialmente a rapidez no processamento de informações e a memória, atingem o ápice nos primeiros anos. Enquanto isso, a capacidade de utilizar todo o conhecimento acumulado só vai chegar ao topo muito depois disso”, afirma. Mas alguns experimentos estão demonstrando que a questão é bem mais heterogênea — uma mesma habilidade pode ter picos em momentos diferentes da vida.
Em 2010, Laura Germine conduziu um estudo com o colega Ken Nakayama, também de Harvard, sobre a capacidade de reconhecer faces e se recordar delas ao longo da vida. “Muita gente — incluindo cientistas — acredita que o ápice dessa habilidade seja atingido na faixa dos 20 anos. O que nós conseguimos mostrar em um estudo com 44 mil voluntários de 10 a 70 anos é que, na verdade, isso ocorre entre os 30 e 34 anos, uma década depois do imaginado”, afirma Germine.
A neuropsicóloga conta que outras tarefas que exigem habilidades de memória, como relembrar nomes, realmente atingem o pico aos 23, 24 anos. Contudo, o reconhecimento de face começa a se afiar aos 10 e continua em uma curva ascendente vagarosa nos 20, chegando ao topo aos 30, quando, no estudo, foram obtidos 83% de acertos. Aos 65, a habilidade já não é tão boa, ficando semelhante à de um jovem de 16. Germine afirma que isso é uma demonstração de que o desempenho de uma mesma função cognitiva pode flutuar dependendo da idade, indicando que a teoria da inteligência fluida e da cristalizada precisa de uma revisão.
Vocábulos Agora, na pesquisa que a psicóloga fez com Joshua Hartshorne, essa ideia se consolidou. A crença convencional, baseada nas teorias sobre QI, é a de que o conhecimento de vocabulário chega ao máximo no fim dos 40 anos. “O que vimos foi que, na verdade, o pico ocorre por volta dos 70. Essa é uma habilidade, aliás, que atinge o ápice cada vez mais tarde com o passar das gerações. Ou estamos ficando melhores para lembrar e aprender palavras ou estamos encontrando novos vocábulos muito mais tarde na vida do que pensávamos”, diz Hartshorne. Ele acredita que isso seja resultado da melhoria da educação, do fato de o mercado de trabalho exigir, cada vez mais, que se leia muito e da preocupação, cada vez maior, de os idosos estimularem a mente.
Outra habilidade que melhora com o tempo é a percepção social, a capacidade de decifrar e compreender o outro, por comunicação verbal ou não verbal (gestos e expressões faciais). “Ela continua muito bem na meia-idade e não há sinais de grandes declínios depois. Isso sugere que os adultos mais velhos podem, particularmente, ler e entender melhor os outros do que as pessoas mais novas”, afirma Hartshorne.
Na opinião de Denise Park, professora de ciências do comportamento e do cérebro da Universidade de Texas em Dallas, o artigo é “provocativo”. Mas ela acredita que seja preciso aprofundar mais a investigação desse tema. “Um problema com o método usado foi que, para conseguir abranger um número tão grande de participantes, os pesquisadores utilizaram resultados em testes feitos em sites de jogos on-line. Eles não acompanharam a evolução cognitiva dos participantes ao longo dos anos, então, isso pode diminuir o efeito que as experiências culturais diferentes têm sobre o desempenho nos testes”, acredita Park, que não participou do estudo.
Palavra de especialista
Angela Gutchessangela,
pesquisadora de envelhecimento e cognição da Universidade de Brandeis, nos EUA
Plasticidade permanente
“Técnicas da neurociência cognitiva para o estudo do envelhecimento têm revelado, de forma surpreendente, que, ao contrário do que se imaginava previamente, os cérebros de idosos continuam maleáveis e plásticos, de alguma maneira. A plasticidade é a habilidade de recrutar com flexibilidade diferentes áreas do cérebro para executar diversas tarefas. Diferentemente de uma visão anterior e extremamente pessimista da velhice, os estudos de neuroimagem sugerem que o cérebro dos mais velhos pode se reorganizar e mudar, e não necessariamente para pior. O cérebro envelhecido é muito mais dinâmico do que se pensava. Avanços nos métodos de pesquisa e uma boa quantidade de questões sob investigação vão melhorar nosso conhecimento sobre as mudanças cerebrais e as adaptações do órgão ao longo da vida.”
| Hartshorne: nuances dos efeitos do envelhecimento sobre o cérebro |
quarta-feira, 13 de maio de 2015
Chardonnay tinto - Martha Medeiros
Zero Hora 13/05/2015
Outro
dia fui a um bistrô com um amigo. Eram 21h30min e havia pouca gente. Carta de
vinhos inexistia, tal a escassez de opções. Tudo bem. Pedi um cálice de
espumante e meu amigo um cálice de chardonnay. Meu espumante veio morno e sem
gás, e descobrimos que existe chardonnay tinto.
Com
a quantidade de problemas que o Estado tem para resolver, falar sobre o serviço
dos estabelecimentos comerciais parece frivolidade, mas não é. Em um mercado
competitivo, mau atendimento é fator de descarte. Talvez os empresários gaúchos
não estejam dando a devida atenção ao assunto porque sua concorrência também
oferece um atendimento sofrível. É possível que pensem: para que investir em
treinamento? Quem for menos pior está no lucro.
É
comum encontrarmos atendentes desinformados, mas o que mais espanta é a
displicência diante do cliente. Nos supermercados é visível o desleixo de
rapazes e moças de todos os setores. Uma rede em especial me tira do sério e só
frequento para emergências. Como costumo ir cedo, já desisti de ser atendida na
peixaria, por exemplo. É a hora do café do funcionário e o balcão fica às
moscas.
Não existe um gerente no local que explique a razão de não haver um
substituto. Ninguém se responsabiliza. Esqueça o peixe. Compre frango, patinho,
alcatra ou volte mais tarde, e torça para chegar num momento em que o rapaz não
esteja ocupado, comentando os resultados do Brasileirão com algum colega.
Como
se sabe, a pessoa mais importante para os funcionários, durante o expediente, é
o colega. O cliente não passa de um estorvo que interrompe a conversa agradável
que eles estão tendo sobre a novela, sobre o gol perdido pelo centroavante,
sobre os dias que faltam para eles saírem de férias. Não é proibido conversar,
mas seria simpático se fizessem isso com discrição e quando não houvesse
cliente em volta.
O
cliente gosta de ser percebido. O cliente gosta de ver o funcionário focado no
que está fazendo. O cliente gosta de saber que está deixando seu dinheiro numa
empresa que valoriza sua presença. Outro dia passei com um carrinho lotado de
compras ao lado de dois garotos que, em tese, deveriam estar no estacionamento
do súper para ajudar os clientes a descarregá-las, mas ambos estavam ocupados
com uma competição de arrotos. Sem problema, posso tranquilamente descarregar
minhas compras sozinha, mas preferiria que os meninos estivessem competindo por
uma gorjeta.
Generalizando:
no Rio Grande do Sul, cliente é um mal necessário. E a culpa dessa distorção
não é do empregado, e sim do patrão. Do dono do bistrô que não treina seu
garçom, da dona da loja que não adverte a balconista que masca chiclete
enquanto mostra o produto, do dono do supermercado que não estabelece normas de
conduta.
Aos
que atendem de forma cortês e eficiente, nossa fidelização e cumprimentos. Aos
relapsos, parafraseio o querido Anonymus Gourmet: não voltaremos.
domingo, 10 de maio de 2015
EM DIA COM A PSICANáLISE » Nepal
Regina Teixeira da Costa
reginacosta@uai.com.b
reginacosta@uai.com.b
Estado de Minas: 10/05/2015
Por tudo isso choramos. E também por nós. Pelo nosso egoísmo, intolerância, permissividade e pequenez. Somos grão de areia no universo, mas nos pensamos grandes. Este ato de contrição e consciência em nada nos absolve. Somos pequenos narcisos presos no reflexo das águas paradas de um lago e lá morreremos ignorando o resto do mundo.
Ignorando que somente nossos atos defenderão o planeta da má administração dos ansiosos pelo poder, dos donos da verdade, que só apontam para erros alheios e não podem ver os seus porque são apaixonados por si mesmos. Esses dominarão o mundo? E nós, que nos consideramos melhores, ficaremos assistindo ao espetáculo da mediocridade?
Onde estão nossos artistas, nossos intelectuais, nossa gente boa (não os que fazem manifestações pelas pequenas perdas de status) que durante a ditadura se posicionaram e opuseram (também aqui não me refiro aos que apelaram contra a lei, assim como os militares, requerendo para si regime de exceção).
Estarão no Facebook ou curtindo as condições oferecidas pela alta modernidade capitalista e pela sociedade do espetáculo, mergulhados no prazer das viagens fáceis, dos voos em promoção, nas lojas de departamento ou grandes marcas, talvez se enfeitando com retoques para adiar as marcas do tempo?
Estariam chorando em frente à televisão pelos soterrados no Nepal? Mas à noite sairão para se divertir, ver um belo filme ou talvez num festim gourmet regado a bom vinho. Felizes e sorridentes, já capazes de esquecer tudo, até o próximo jornal. Como disse Maria Antonieta, entre brioches e panelaços. Assim é. Assim somos. Volúveis, às vezes egoístas e egocêntricos e também o oposto. Temos capacidade de ser grandes e melhores.
De chorarmos juntos porque carregamos em nós um medo e um mal-estar de muitas origens. Temos medos porque somos desamparados e indefesos diante de fatos internos e externos que nos atingem e dos quais nem sempre podemos escapar. Medo das doenças. Do mosquito da dengue. Dos desastres ecológicos, das intempéries e catástrofes da natureza.
E, acima de tudo, sofremos por causa do outro, que como dizia Sartre, é o nosso inferno. Mas acima de tudo por nós, que internamente somos tão divididos e culpados sem nem sequer saber de quê. Nos impingimos castigos frequentes, com autoacusações, depressões pela covardia moral de abandonar o desejo, ansiedades, pecados nem sempre cometidos.
Igualmente, fomos capazes de juntos construir civilizações incríveis, como o Nepal, por exemplo, com tantos templos considerados patrimônio histórico da humanidade, hoje quase destruídos, e formar uma comunidade na qual tentamos nos ajudar e nos defender mutuamente de tantas ameaças. Fomos capazes de fazer pactos por meio da lei para proteger os mais fracos contra os abusos dos mais fortes.
Adquirimos força e poder com nossas invenções e poderíamos nos matar uns aos outros até o último homem. Mas esperamos que as forças da vida superem toda a nossa covardia e nos tornem pessoas melhores que possam se unir e dar as mãos, para chorar juntos e nos mobilizar sempre que pudermos por um mundo melhor.
E se não podemos ser plenamente felizes, então que sejamos o menos possível infelizes, o que já é melhor do que nada.
Eu deveria hoje falar das mães. Só que não falei. Mas deixo aqui registrado meu abraço a todas elas.
quarta-feira, 6 de maio de 2015
Um novo olhar sobre as palavras - Martha Medeiros
ZERO HORA 06/05/2015
Isso é bom, isso é ruim, isso é
certo, isso é errado, isso é assim e não assado. Costumamos catalogar e
etiquetar tudo, inclusive palavras e expressões. No entanto, algumas foram
condenadas a ter um sentido negativo quando poderiam ser avaliadas por outro
prisma – caso de “válvula de escape”, por exemplo. Bastou dizer que fulano está
recorrendo a uma válvula de escape para que pensemos que a criatura não é de
confiança, que é alguém que não enfrenta a realidade. Puro pensamento
condicionado. Ora, qual o problema de se ter uma válvula de escape?
Uma viagem solitária, um amor
escondido, um vício secreto, um pseudônimo, manias ocultas: ninguém precisa ser
tão corretinho e tão transparente o tempo todo. Dar uma fugida para um mundo
particular, só seu, não consta da lista de pecados mortais – supondo que você
ainda acredite em pecados.
Frivolidade. Outra palavra para a
qual os narizes se torcem. A ordem é ser sério e profundo para garantir o
respeito alheio. Concordo, mas sem fanatismo. Sou séria, profunda, respeitável
e também leve, superficial, brincalhona, tudo isso atendendo pelo mesmo nome e
sobrenome. Virar refém da aura de intelectual que minha profissão impõe? Nunca
pensei. Escritores também têm o direito de ser divertir, assim como juízes e
padres. Frívolo, mesmo, é aquele que engessa a própria vida.
Escândalo. Precisa mesmo ser uma
palavra que apavore os cidadãos de bom comportamento? É razoável que não
queiramos mais escândalos na política, mas um decote escandaloso, um beijo
escandaloso, uma performance escandalosa podem provocar sorrisos, desejos,
ideias e uma empolgação a que estamos cada vez menos acostumados. É importante
sermos provocados. O escândalo nos salva da anestesia geral e da apatia que a
constante repetição dos dias provoca.
OLHA O PASSARINHO
Estado de Minas segue conta de escritores
famosos no Twitter. Posts têm revelação sobre personagens de
best-sellers, confissões sobre a ansiedade de ser pai, discussão com
internautas e citações sem crédito
Bossuet Alvim
Estado de Minas: 06/05/2015Em 140 caracteres, autores consagrados podem sintetizar suas obras ou compartilhar com admiradores o que há de peculiar, curioso
e bem-humorado por trás de um best-seller. Essa última opção contribui para o inesgotável estoque de piadas da internet. A primeira amplia as possibilidades de interpretação de um livro e revive, via timeline, a noção de história em aberto na produção literária. Em variações do que aplicam ao papel ou e-book, escritores podem usar o Twitter para divulgar discursos políticos da vida real que complementam ficções incabíveis ou para revelar o fim de personagens secundários. Afinal, o destino do cão de três cabeças que apareceu em poucas páginas não é relevante para a franquia Harry Potter, mas, quando revelado pela autora no Twitter, torna-se aperitivo de sabor inestimável para milhões de fãs da série. Criada em 2006 e transformada em ferramenta global pelos três anos seguintes, a rede de microblog funciona como exercício para os que mantêm o hábito de manusear palavras – e interesse do público – sob o desafio da restrição de espaço. Seguimos algumas contas de escritores que merecem seu follow, e o resultado está resumido ao lado.
Irvine Welsh (@IrvineWelsh)
Autor de Trainspotting (1993), que deu origem ao cultuado filme homônimo de Danny Boyle, o escocês comenta com leitores suas viagens e sua produção literária e também para teatro, cinema e TV. As referências ao livro de estreia do autor são tão recorrentes que a conta de Welsh na rede de microblog serve como compilação das inúmeras formas bem-humoradas com que ele tenta se livrar do título. “Jornalistas italianos: ‘Quando teremos Trainspotting 2’? Eu: ‘Não sei. Talvez em breve, talvez nunca’. Jornalistas italianos: ‘Então talvez em breve!’ Eu: ‘Aaaaagh!’”.
Joyce Carol Oates (@joycecaroloates)
Aos 77 anos, Oates é usuária prolífica que parece encontrar tempo para escrever em qualquer plataforma. A marca de ao menos um tuíte diário é surpreendente para quem se encarrega de lançar no mínimo um livro por ano desde 1964. Mais de 60 romances publicados em meio século tornaram a norte-americana conhecida pela visão crítica com que destrincha o cotidiano de seu país. Na internet, não é diferente: os comentários mais recentes vão da análise sobre protestos antirracismo em Baltimore ao embate entre escritores de ficção e autores de biografias. Indicada ao Pulitzer por Blonde (2000), em torno de Marilyn Monroe, ela tuitou: “Escritores de ficção esperam que a ‘não-ficção’ seja apenas isso: não ficção! O coração murcha quando alguém lê uma versão obviamente ficcional de um fato”.
Salman Rushdie (@salmanrushdie)
Sem temer a polêmica, o britânico de origem indiana usa o perfil para debater de política a literatura. Costuma replicar mensagens que julga relevantes e comenta aquelas das quais discorda. Recentemente, Rushdie apoiou a controversa indicação do jornal satírico Charlie Hebdo ao prêmio máximo da organização não governamental Poetas, Ensaístas e Novelistas (PEN International). Defende a publicação francesa, acusada de xenofobia e racismo, com a propriedade de quem foi condenado à morte pelo regime iraniano após a publicação de Os versos satânicos (1988). “Você já leu um exemplar do Charlie Hebdo? Todas as religiões são satirizadas”, diz a um seguidor. Diante de um tuíte que mandava o escritor “se f…”, responde: “Obrigado, mande uma foto sua e nós veremos se podemos combinar”.
Daniel Galera (@ranchocarne)
De carreira literária nascida e criada na internet, o paulistano finalista do Prêmio Jabuti usa a ferramenta de microblog com a amplitude que cabe aos que acompanharam de perto o avanço das redes sociais. Games, música, cinema, política: o Twitter de Galera é espaço multimídia em que se propagam links para conteúdo recém-descoberto por ele, recomendações de obras conhecidas e outras nem tanto, além de comentários imediatos sobre o noticiário. Na timeline do autor de Mãos de cavalo cabem reflexões sobre atualidades (“Transplante de cabeça. Se não é 1º de abril atrasado, é a coisa mais demente e fascinante que ocorrerá em muito tempo”), divagações sobre a cena pop (“Também adorei o Boyhood do Linklater, mas abrir filme com música do Coldplay, plmdds, isso não se faz, bota aviso, meu amigo”) e acenos bem encaixados à produção cultural fora do mainstream (“Bom artista: Tristan Hone. Assisti ao vivo ontem e ainda estou me recuperando”).
Neil Gaiman (@neilhimself)
O inglês é tão intenso no Twitter quanto tem se mostrado nos últimos 30 anos como autor de HQs, romances ou roteiros para cinema e TV. Aos 2,22 milhões de seguidores do pai de Sandman, o Twitter revela uma persona pública tão intrigante quanto sua própria obra. Sabe-se que o autor de Coisas frágeis está “não apenas excitado”, mas de fato “se contorcendo de ansiedade” pela estreia de uma série dramática da BBC; e que ele planeja uma pausa no Twitter após o nascimento de seu filho com a cantora nova-iorquina Amanda Palmer, previsto para setembro, uma chegada que o deixa “mais ou menos nervoso”. Admite que as principais razões para começar a escrever foram “fome e nenhuma outra habilidade rentável”, um ofício que ele diz obedecer “sem regras”. Até mesmo uma possível visita ao Brasil é cogitada, mas a viagem ainda “depende da agenda” de Amanda.
J.K. Rowling (jk_rowling)
Inaugurado em 2009, mais de 12 anos após a primeira edição de Harry Potter e a pedra filosofal, o perfil é o canal favorito de Rowling para contato com leitores. Ela revela ocasionalmente aos mais de 4 milhões de seguidores detalhes da trama que não chegaram aos sete livros da série. Em 140 caracteres, Rowling amarra pontas soltas na coleção que vendeu mais de 450 milhões de exemplares. No começo do ano, contou que Fofo, cão gigantesco de três cabeças tratado como animal de estimação pelo zelador Rúbeo Hagrid no primeiro volume, conseguiu um final feliz. “Ele foi repatriado à Grécia. Dumbledore gostava de devolver as aquisições mais tolas de Hagrid ao lugar de onde vieram.” O alvoroço mais recente, contudo, veio da resposta a uma fã que perguntou por que a autora havia dito que Alvo Dumbledore era gay e afirmou que “não conseguia ver dessa maneira” o diretor de Hogwarts. J.K. foi certeira: “Talvez porque pessoas que são gays parecem apenas... pessoas?”.
Paulo Coelho (@paulocoelho)
Dez milhões de usuários acompanham as postagens do brasileiro que mais vendeu livros em todo o mundo. Paulo Coelho costuma recorrer à universalidade do inglês na rede social, talvez por respeito à marca global dos 150 milhões de exemplares publicados em cerca de 170 países. O idioma, contudo, não chega a ser barreira, já que boa parte das publicações são de imagens motivacionais, trechos do próprio autor ou pequenas frases inspiradoras. Já nos comentários, ele se dá ao luxo de ser direto: os mais recentes defendiam a cantora mexicana Anahi, vítima de comentários maldosos pelo casamento com o governador do estado de Chiapas. “Dá asco ver tanto ataque a Anahi e Velasco (inclusive de ‘fã’). Eles merecem felicidade”, protestou o escritor. A ex-integrante do grupo RBD é apenas uma entre várias estrelas na imensa lista de amigos célebres que aparecem em fotos ao lado de Coelho via Twitter. Entre as mais recentes pílulas de sabedoria que o criador de O alquimista oferece aos leitores, “a melhor forma de ser original é ser você mesmo” veio seguida de “Deus nos julgará não pelo que dissermos hoje, mas pelo que fizermos amanhã; não pelas promessas que fizermos, mas pelas que cumprirmos”. A última frase é versão alterada do trecho de um discurso proferido por Gerald R. Ford em 1975, em Helsinque, durante a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa. Curiosamente, a citação do presidente dos EUA é apresentada sem créditos aos seguidores de Paulo.
Assinar:
Comentários (Atom)